CAUSAS
DA DECADÊNCIA DOS POVOS PENINSULARES
NOS ÚLTIMOS TRÊS SÉCULOS
Meus
Senhores:
A decadência
dos povos da Península nos três últimos séculos é um dos factos mais
incontestáveis, mais evidentes da nossa história: pode até dizer-se que essa
decadência, seguindo-se quase sem transição a um período de força gloriosa
e de rica originalidade, é o único grande facto evidente e incontestável que
nessa história aparece aos olhos do historiador filósofo. Como peninsular,
sinto profundamente ter de afirmar, numa assembleia de peninsulares, esta
desalentadora evidência. Mas, se não reconhecermos e confessarmos francamente
os nossos erros passados, como poderemos aspirar a uma emenda sincera e
definitiva? O pecador humilha-se diante do seu Deus, num sentido acto de contrição,
e só assim é perdoado. Façamos nós também, diante do espírito de verdade,
o acto de contrição pelos nossos pecados históricos, porque só assim nos
poderemos emendar e regenerar.
Conheço
quanto é delicado este assunto, e sei que por isso dobrados deveres se impõem
à minha crítica. Para uma assembleia de estrangeiros não passará esta duma
tese histórica, curiosa sim para as inteligências, mas fria e indiferente para
os sentimentos pessoais de cada um. Num auditório de peninsulares não é porém
assim. A história dos últimos três séculos perpetua-se ainda hoje entre nós
em opiniões, em crenças, em interesses, em tradições, que a representam na
nossa sociedade, e a tornam de algum modo actual. Há em nós todos uma voz íntima
que protesta em favor do passado, quando alguém o ataca: a razão pode condená-lo:
o coração tenta ainda absolvê-lo. É que nada há no homem mais delicado,
mais melindroso, do que as ilusões: e são as nossas ilusões o que a razão
critica, discutindo o passado, ofende sobretudo em nós.
Não posso
pois apelar para a fraternidade das ideias: conheço que as minhas palavras não
devem ser bem aceites por todos. As ideias, porém, não são felizmente o único
laço com que se ligam entre si os espíritos dos homens. Independente delas, se
não acima delas, existe para todas as consciências rectas, sinceras, leais, no
meio da maior divergência de opiniões, uma fraternidade moral, fundada na mútua
tolerância e no mútuo respeito, que une todos os espíritos numa mesma comunhão
- o amor e a procura desinteressada da verdade. Que seria dos homens se, acima
dos ímpetos da paixão e dos desvarios da inteligência, não existisse essa
região serena da concórdia na boa-fé e na tolerância recíproca! Uma região
onde os pensamentos mais hostis se podem encontrar, estendendo-se lealmente a mão,
e dizendo uns para os outros com um sentimento humano e pacífico: és uma
consciência convicta! É para essa comunhão moral que eu apelo. E apelo
para ela confiadamente, porque, sentindo-me dominado por esse sentimento de
respeito e caridade universal, não posso crer que haja aqui alguém que duvide
da minha boa-fé, e. se recuse a acompanhar-me neste caminho de lealdade e
-tolerância.
Já o
disse há dias, inaugurando e explicando o pensamento destas Conferências: não
pretendemos impor as nossas opiniões, mas simplesmente expô-las:
não pedimos a adesão das pessoas que nos escutam; pedimos só a discussão:
essa discussão, longe de nos assustar, é o que mais desejamos, porque; ainda
que dela resultasse a condenação das nossas ideias, contanto que essa condenação
fosse justa e inteligente, ficaríamos contentes, tendo contribuído, posto que
indirectamente, para a publicarão de algumas verdades. São prova da
sinceridade deste desejo aqueles lugares e aquelas mesas, destinadas
particularmente aos jornalistas, onde podem tomar nota das nossas palavras,
tornando-lhes nós assim franca e fácil a contradição.
Meus
Senhores: a Península, durante os séculos XVII, XVIII e XIX; apresenta-nos um
quadro de abatimento e insignificância, tanto mais sensível quanto contrasta
dolorosamente com a grandeza, a importância e a originalidade do papel que
desempenhámos no primeiro período da Renascença, durante toda a Idade Média,
e ainda nos últimos séculos -da Antiguidade. Logo na época romana aparecem os
caracteres essenciais da raça peninsular: espírito de independência local e
originalidade de génio inventivo. Em parte alguma custou tanto à dominação
romana o estabelecer-se, nem chegou nunca a ser completo esse estabelecimento.
Essa personalidade independente mostra-se claramente, na literatura, onde os
espanhóis Lucano, Séneca, Marcial, introduzem no latim um estilo e uma feição
inteiramente peninsulares, e singularmente característicos. Eram os prenúncios
da viva. originalidade que ia aparecer nas épocas seguintes. Na Idade Média a
Península, livre de estranhas influências, brilha na plenitude do seu génio,
das suas qualidades naturais. O instinto político de descentralização e
federalismo patenteia-se na multiplicidade de reinos e condados soberanos, em
que se divide a Península, como um protesto e uma vitória dos interesses e
energias locais, contra. a unidade uniforme, esmagadora e artificial. Dentro de
cada uma dessas divisões as comunas, os forais, localizam ainda mais os
direitos, e manifestam e firmam, com um sem-número de instituições, o espírito
independente e autonómico das populações. E esse espírito não é só
independente: é, quanto a época o comportava, singularmente democrático.
Entre todos os povos da Europa central e ocidental, somente os da Península
escaparam ao jugo de ferro do feudalismo. O espectro torvo do castelo feudal não
assombrava os nossos vales, não se inclinava, como uma ameaça, sobre a margem
dos nossos rios, não entristecia os nossos horizontes com o seu perfil duro e
sinistro. Existia, certamente, a nobreza, como uma ordem distinta. Mas o foro
nobiliário generalizara-se tanto, e tornara-se de tão fácil acesso, naqueles
séculos heróicos de guerra incessante, que não é exagerada a expressão
daquele poeta que nos chamou, a nós Espanhóis, um povo de nobres.
Nobres e populares uniam-se por interesses e sentimentos, e diante deles a coroa
dos reis era mais um símbolo brilhante do que uma realidade poderosa. Se nessas
idades ignorantes a ideia do Direito era obscura e mal definida, o instinto do
Direito agitava-se enérgico nas consciências, e as acções surgiam viris como
os caracteres.
A tais
homens não convinha mais o despotismo religioso do que o despotismo político:
a opressão espiritual repugnava-lhes tanto como a sujeição civil. Os povos
peninsulares são naturalmente religiosos: são-no até de uma maneira ardente,
exaltada e exclusiva, e é esse um dos seus caracteres mais pronunciados. Mas são
ao mesmo tempo inventivos e independentes: adoram com paixão: mas só adoram
aquilo que eles mesmos criam, não aquilo que se lhes impõe. Fazem a religião,
não a aceitam feita. Ainda hoje duas terças partes da população espanhola
ignoram completamente os dogmas, a teologia e os mistérios cristãos: mas
adoram fielmente os santos padroeiros das suas cidades: porquê? porque os
conhece, porque os fez. O nosso génio é criador e individualista: precisa
rever-se nas suas criações. Isto (junto à falta de coesão do maquinismo católico
da Idade Média, ainda mal definido e pouco disciplinado pela inexorável escola
de Roma) explica suficientemente a independência das igrejas peninsulares, e a
atitude altiva das coroas da Península diante da cúria romana. Os papas eram já
muitos: mas os bispos e as cortes eram ainda bastantes. Para as pretensões
italianas havia um não muito franco e muito firme. E essa resistência não
saía apenas da vontade e do interesse de alguns: saía do impulso incontrastável
do génio popular. Esse génio criador via-se no aparecimento de rituais indígenas,
numa singular liberdade de pensamento e interpretação, e em mil originalidades
de disciplina. Era o sentimento cristão, na sua expressão viva e humana, não
formal e ininteligente: a caridade e a tolerância tinham um lugar mais alto do
que a teologia dogmática. Essa tolerância pelos Mouros e Judeus, raças
infelizes e tão meritórias, será sempre uma das glórias do sentimento cristão
da Península da Idade Média. A caridade triunfava das repugnâncias e
preconceitos de raça e de crença. Por isso o seio do povo era fecundo; saíam
dele santos, individualidades à uma ingénuas e sublimes, símbolos vivos da
alma popular, e cujas singelas histórias ainda hoje não podemos ler sem
enternecimento.
No mundo
da inteligência não é menos notável a expansão do espírito peninsular
durante a Idade Média. O grande movimento intelectual da Europa medieval
compreende a filosofia escolástica e a teologia, as criações nacionais dos
ciclos épicos, e a arquitectura. Em nada disto se mostrou a Península inferior
às grandes nações cultas, que haviam recebido a herança da civilização
romana. Demos à escola filósofos como Raimundo Lúlio; à Igreja, teólogos e
papas, um destes português, João XXI. As escolas de Coimbra e Salamanca tinham
uma celebridade europeia: nas suas aulas viam-se estrangeiros de distinção
atraídos pela fama dos seus doutores. Entre os primeiros homens do século XIII
está um, monarca espanhol, Afonso, o Sábio, espírito universal, filósofo,
político e legislador. Nem posso também deixar esquecidos os mouros e judeus,
porque foram uma das glórias da Península. A reforma da escolástica, nos séculos
XIII e XIV, pela renovação do aristotelismo, foi obra quase exclusiva das
escolas árabes e judaicas de Espanha. Os homens de Averróis (de Córdova), de
Ibn-Tophail (de Sevilha) e os dois judeus Maimónides e Avicebron serão sempre
contados entre os primeiros na história da filosofia na Idade Média. Ao pé da
filosofia, a poesia. Para opor aos ciclos épicos da Távola Redonda, de Carlos
Magno e do Santo Graal, tivemos aquele admirável Romancero, as lendas do
Cid, dos Infantes de Lara, e tantas outras, que se teriam condensado em
verdadeiras epopeias, se o espírito clássico da Renascença não tivesse vindo
dar à Poesia outra direcção. Ainda assim, grande parte, a melhor parte
talvez, do teatro espanhol saiu da mina inesgotável do Romancero. Para
opor aos trovadores provinciais, tivemos também trovadores peninsulares. Dos
nossos reis e cavaleiros trovaram alguns com tanto primor como Beltrão de Born
ou o conde de Tolosa. Quanto à arquitectura, basta lembrar a Batalha e a
Catedral de Burgos, duas das mais belas rosas góticas desabrochadas no seio da.
Idade Média. Em tudo isto acompanháramos a Europa, a par do movimento geral.
Numa coisa, porém, a excedemos, tornando-nos iniciadores: os estudos geográficos
e as grandes navegações. As descobertas, que coroaram tão brilhantemente o
fim do século XV, não se fizeram ao acaso. Precedeu-as um trabalho
intelectual, tão científico quanto a época o permitia, inaugurado pelo nosso
infante D. Henrique, nessa famosa escola de Sagres, de onde saíam homens como
aquele heróico Bartolomeu Dias, e cuja influência, directa ou indirectamente,
produziu um Magalhães e um Colombo. Foi uma onda que, levantada aqui, cresceu
até ir rebentar nas praias do Novo Mundo. Viu-se de quanto eram capazes a
inteligência e a energia peninsulares. Por isso a Europa tinha os olhos em nós,
e na Europa a nossa influência nacional era das que mais pesavam. Contava-se
para tudo com Portugal e Espanha. O Santo Império alemão oferece a orgulhosa
coroa imperial a um rei de Castela, Afonso, o Sábio. No século XV, D.
João I, árbitro em várias questões internacionais, é geralmente
considerado, em influência e capacidade, como um dos primeiros monarcas da
Europa. Tudo isto nos prepara para desempenharmos, chegada a Renascença, um
papel glorioso e preponderante. Desempenhámo-lo, com efeito, brilhante e
ruidoso: os nossos erros, porém, não consentiram que fosse também duradouro e
profícuo. Como foi que o movimento regenerador da Renascença; tão bem
preparado, abortou entre nós mostrá-lo-ei logo com factos decisivos. Esse
movimento só foi entre nós representado por uma geração de homens
superiores, a primeira. As seguintes, que o deviam consolidar, fanatizadas,
entorpecidas, impotentes, não souberam compreender nem praticar aquele espírito
tão alto e tão livre: desconheceram-no, ou combateram-no. Houve, porém, uma
primeira geração que respondeu ao chamamento da Renascença; e enquanto essa
geração ocupou a cena, isto é, até ao meado do século XVI, a Península
conservou-se à altura daquela época extraordinária de criação e liberdade
de pensamento. A renovação dos estudos recebeu-a nas suas Universidades novas
ou reformadas, onde se explicavam os grandes monumentos literários da
Antiguidade, muitas vezes na própria língua dos originais. Entre as 43
Universidades estabelecidas na Europa durante o século XVI, 14 foram fundadas
pelos reis de Espanha. A filosofia neoplatónica, que substituía por toda a
parte a velha e gasta escolástica, foi adoptada pelos espíritos mais
eminentes. Um estilo e uma literatura novos surgiram com Camões, com Cervantes,
com Gil Vicente, com Sá de Miranda, com Lope de Vega, com Ferreira. Demos às
escolas da Europa sábios como Miguel Servet, precursor de Harvey, filósofos
como Sepúlveda, um dos primeiros peripatéticos do tempo, e o português
Sanches, mestre de Montaigne. A família dos humanistas, verdadeiramente
característica da Renascença, foi representada entre nós por André de
Resende, por Diogo de Teive, pelo bispo de Tarragona, Antonio Augustin, por Damião
de Góis, e por Camões, cuja inspiração não excluía uma erudição quase
universal. Finalmente, a arte peninsular ergue nessa época um voo poderoso, com
a arquitectura chamada manuelina, criação duma originalidade e graça
surpreendentes, e com a brilhante escola de pintura espanhola, imortalizada por
artistas como Murillo, Velásquez, Ribera. Fora da pátria guerreiros ilustres
mostravam ao mundo que o valor dos povos peninsulares não era inferior à sua
inteligência. Se as causas da nossa decadência existiam já latentes, nenhum
olhar podia ainda então descobri-Ias: a glória, e uma glória merecida, só
dava lugar à admiração.
Deste
mundo brilhante, criado pelo génio peninsular na sua livre expansão, passamos
quase sem transição para um mundo escuro, inerte, pobre, ininteligente e meio
desconhecido. Dir-se-á que entre um e outro se meteram dez séculos de decadência:
pois bastaram para essa total transformação 50 ou 60 anos! Em tão curto período
era impossível caminhar mais rapidamente no caminho da perdição.
No princípio
do século XVII, quando Portugal deixa de ser contado entre as nações, e se
desmorona por todos os lados a monarquia anómala, inconsistente e desnatural de
Filipe II; quando a glória passada já não pode encobrir o ruinoso do edifício
presente, e se afunda a Península sob o peso dos muitos erros acumulados, então
aparece franca e patente por todos os lados a nossa improcrastinável decadência.
Aparece em tudo; na política, na influencia, nos trabalhos da inteligência, na
economia social e na indústria, e como consequência de tudo isto, nos
costumes. A preponderância, que até então exercêramos nos negócios da
Europa, desaparece para dar lugar à insignificância e à impotência. Nações
novas ou obscuras erguem-se e conquistais no mundo, à nossa custa, a influência
de que nos mostrámos indignos. A coroa de Espanha é posta em leilão sangrento
no meio das nações, e adjudicada, no fim de doze anos de guerra, a um neto de
Luís XIV. Com a dinastia estrangeira começa uma política antinacional, que
envilece e desacredita a monarquia. E esse rei estrangeiro custa à Espanha a
perda de Nápoles, da Sicília, do Milanês, dos Países Baixos! Em Portugal, é
a influência inglesa, que, por meio de cavilosos tratados, faz de nós uma espécie
de colónia britânica. Ao mesmo tempo as nossas próprias colónias escapam-nos
gradualmente das mãos: as Molucas passam a ser holandesas; na índia lutam
sobre os nossos despojos holandeses, ingleses e franceses: na China e no Japão
desaparece a influência do nome português. Portugueses e Espanhóis, vamos de
século para século minguando em extensão e importância, até não sermos
mais que duas sombras, duas nações espectros, no meio dos povos que nos
rodeiam!... E que tristíssimo quadro o da nossa política interior! As
liberdades municipais, à iniciativa local das comunas, aos forais, que davam a
cada população uma fisionomia e vida próprias, sucede a centralização,
uniforme e esterilizadora. A realeza deixa então de encontrar uma resistência
e uma força exterior que a equilibre, e transforma-se no puro absolutismo;
esquecendo a sua origem e a sua missão, crê ingenuamente que os povos não são
mais do que o património providencial dos reis. O pior é que os povos
acostumam-se a crê-lo também! Aquele espírito de independência que inspirava
o firme si no, no! da Idade Média adormece e morre no seio popular. O
povo emudece; negam-lhe a palavra, fechando-lhe as Cortes; não o consultam, nem
se conta já com ele. Com quem se conta é com a aristocracia palaciana, com uma
nobreza cortesã, que cada vez se separa mais do povo pelos interesses e pelos
sentimentos, e que, de classe, tende a transformar-se em casta. Essa
aristocracia, como um embaraço na circulação do corpo social, impede a elevação
natural de um elemento novo, elemento essencialmente moderno, a classe média, e
contraria assim todos os progressos ligados a essa elevação. Por isso decai
também a vida económica: a produção decresce, a agricultura recua,
estagna-se o comércio, deperecem uma por uma as indústrias nacionais; a
riqueza, uma riqueza faustosa e estéril, concentra-se em alguns pontos
excepcionais, enquanto a miséria se alarga pelo resto do país: a população,
dizimada pela guerra, pela emigração, pela miséria, diminui de uma maneira
assustadora. Nunca povo algum absorveu tantos tesouros, ficando ao mesmo tempo tão
pobre! No meio dessa pobreza e dessa atonia, o espírito nacional, desanimado e
sem estímulos, devia cair naturalmente num estado de torpor e de indiferença.
É o que nos mostra claramente esse salto mortal dado pela inteligência dos
povos peninsulares, passando da Renascença para os séculos XVII e XVIII. A uma
geração de filósofos, de sábios e de artistas criadores, sucede a tribo
vulgar dos eruditos sem crítica, dos académicos, dos limitadores. Saímos duma
sociedade de homens vivos, movendo-se ao ar livre: entrámos num recinto
acanhado e quase sepulcral, com uma atmosfera turva pelo pó dos livros velhos,
e habitado por espectros de doutores. A poesia, depois da exaltação estéril,
falsa, e artificialmente provocada do gongorismo, depois da afectação dos
conceitos (que ainda mais revelava a nulidade do pensamento), cai na imitação
servil e ininteligente da poesia latina, naquela escola clássica, pesada e
fradesca, que é a antítese de toda a inspiração e de todo o sentimento. Um
poema compõe-se doutoralmente, como uma dissertação teológica. Traduzir é o
ideal: inventar considera-se um perigo e uma inferioridade: uma obra poética é
tanto mais perfeita quanto maior número de versos contiver traduzidos de Horácio,
de Ovídio. Florescem a tragédia, a ode pindárica, e o poema herói-cómico,
isto é, a afectação e a degradação da poesia. Quanto à verdade humana, ao
sentimento popular e nacional, ninguém se preocupava com isso. A invenção e
originalidade, nessa época deplorável, concentra-se toda na descrição
cinicamente galhofeira das misérias, das intrigas, dos expedientes da vida
ordinária. Os romances picarescos espanhóis e as comédias populares
portuguesas são irrefutáveis actos de acusação, que, contra si mesma, nos
deixou essa sociedade, cuja profunda desmoralização tocava os limites da
ingenuidade e da inocência no vício. Fora desta realidade pungente, a
literatura oficial e palaciana espraiava-se pelas regiões insípidas do
discurso académico, da oração fúnebre, do panegírico encomendado – géneros
artificiais, pueris, e mais que tudo soporíficos. Com um tal estado dos espíritos,
o que se podia esperar da arte? Basta erguer os olhos para essas lúgubres moles
de pedra, que se chamam o Escorial e Mafra, para vermos que a mesma ausência de
sentimento e invenção, que produziu o gosto pesado e insípido do classicismo,
ergueu também as massas compactas, e friamente correctas na sua falta de
expressão, da arquitectura jesuítica. Que triste contraste entre essas
montanhas de mármore, com que se julgou atingir o grande, simplesmente porque
se fez o monstruoso, e a construção delicada, aérea, proporcional e, por
assim dizer, espiritual dos Jerónimos, da Batalha, da Catedral de Burgos! O espírito
sombrio e depravado da sociedade reflectiu-o a Arte, com uma fidelidade
desesperadora, que será sempre perante a história uma incorruptível
testemunha de acusação contra aquela época de verdadeira morte moral. Essa
morte moral não invadira só o sentimento, a imaginação, o gosto: invadira
também, invadira sobretudo a inteligência. Nos últimos dois séculos não
produziu a Península um único homem superior, que se possa pôr ao lado dos
grandes criadores da ciência moderna: não saiu da Península uma só das
grandes descobertas intelectuais, que são a maior obra e a maior honra do espírito
moderno. Durante 200 anos de fecunda elaboração, reforma a Europa culta as ciências
antigas, cria seis ou sete ciências novas, a anatomia, a fisiologia, a química,
a mecânica celeste, o cálculo diferencial, a crítica histórica, a geologia:
aparecem os Newton, os Descartes, os Bacon, os Leibniz, os Harvey, os Buffon, os
Ducange, os Lavoisier, os Vico – onde está, entre os nomes destes e dos
outros verdadeiros heróis da epopeia do pensamento, um nome espanhol ou português?
Que nome espanhol ou português se liga à descoberta duma grande lei científica,
dum sistema, duma facto capital? A Europa culta engrandeceu-se, nobilitou-se,
subiu sobretudo pela ciência: foi sobretudo pela falta de ciência que nós
descemos, que nos degradámos, que nos anulámos. A alma moderna morrera dentro
em nós completamente.
Pelo
caminho da ignorância, da opressão e da miséria chega-se naturalmente,
chega-se fatalmente, à depravação dos costumes. E os costumes depravaram-se
com efeito. Nos grandes, a corrupção faustosa da vida de corte, onde os reis são
os primeiros a dar o exemplo do vício, da brutalidade, do adultério: Afonso
VI, João V, Filipe V, Carlos IV. Nos pequenos, a corrupção hipócrita, a família
vendida pela miséria aos vícios dos nobres e dos poderosos. É a época das amásias
e dos filhos bastardos. O que era então a mulher do povo, em face das tentações
do ouro aristocrático, vê-se bem no escandaloso processo de nulidade de matrimónio
de Afonso VI, e nas memórias do Cavaleiro de Oliveira. Ser rufião é um ofício
geralmente admitido, e que se pratica com aproveitamento na própria corte. A
religião deixa -de ser um sentimento vivo; torna-se uma prática ininteligente,
formal, mecânica. O que eram os frades, sabemo-lo todos: os costumes picarescos
e ignóbeis dessa classe são ainda hoje memorados pelo Decameron da
tradição popular. O pior é que esses histriões tonsurados eram ao mesmo
tempo sanguinários. A Inquisição pesava sobre as consciências como a abóbada
dum cárcere. O espírito público abaixava-se gradualmente sob a pressão do
terror, enquanto o vício, cada vez mais requintado, se apossava placidamente do
lugar vazio que deixava nas almas a dignidade, o sentimento moral e a energia da
vontade pessoal, esmagados, destruídos pelo medo. Os casuístas dos séculos
XVII e XVIII deixaram-nos um vergonhoso monumento de requinte bestial de todos
os vícios, da depravação das imaginações, das misérias íntimas da família,
da perdição de costumes, que corria aquelas sociedades deploráveis. Isto por
um lado: porque, pelo outro, os casuístas mostram-nos também a que
abaixamento moral chegara o espírito do clero, cavando todos os dias esse lodo,
revolvendo com afinco, com predilecção, quase com amor, aquele montão
graveolente de abjecções. Todas essas misérias íntimas reflectem-se
fielmente na literatura. O que eram no século XVII a moral pública, as
intrigas políticas, o nepotismo cortesão, o roubo audaz ou sub-reptício da
riqueza pública, vê-se (e com todo o relevo duma pena sarcástica e inexorável)
na Arte de Furtar do Padre António Vieira. Quanto aos documentos para a
história da família e dos costumes privados, encontramo-los na Carta de
Guia de Casados de D. Francisco Manuel, nas forças populares
portuguesas, e nos romances picarescos espanhóis. O espírito peninsular
descera de degrau em degrau, até ao último termo da depravação!
Tais temos
sido nos últimos três séculos: sem vida, sem liberdade, sem riqueza, sem ciência,
sem invenção, sem costumes. Erguemo-nos hoje a custo, Espanhóis e
Portugueses, desse túmulo onde os nossos grandes erros nos tiveram sepultados:
erguemo-nos, mas os restos da mortalha ainda nos embaraçam os passos, e pela
palidez dos nossos rostos pode bem ver o mundo de que regiões lúgubres e
mortais chegámos ressuscitados! Quais as causas dessa decadência, tão visível,
tão universal, e geralmente tão pouco explicada? Examinemos os fenómenos que
se deram na Península durante o decurso do século XVI, período de transição
entre a Idade Média e os tempos modernos, e em que aparecem os gérmenes, bons
e maus, que mais tarde, desenvolvendo-se nas sociedades modernas, deram a cada
qual o seu verdadeiro carácter. Se esses fenómenos forem novos, universais, se
abrangerem todas as esferas da actividade nacional, desde a religião até à
indústria, ligando-se assim intimamente ao que há de mais vital nos povos
estarei autorizado a empregar o argumento (neste caso, rigorosamente lógico) post
hoc, ergo propter hoc, e a concluir que é nesses novos fenómenos que se
devem buscar e encontrar as causas da decadência da Península.
Ora esses
fenómenos capitais são três, e de três espécies: um moral, outro político,
outro económico. O primeiro é a transformação do catolicismo, pelo
Concílio de Trento. O segundo, o estabelecimento do absolutismo, pela ruína
das liberdades locais. O terceiro, o desenvolvimento das conquistas longínquas.
Estes fenómenos assim agrupados, compreendendo os três grandes aspectos da
vida social, o pensamento, a política e o trabalho,
indicam-nos claramente que uma profunda e universal revolução se operou,
durante o século XVI, nas sociedades peninsulares. Essa revolução foi
funesta, funestíssima. Se fosse necessária uma contraprova, bastava
considerarmos um facto contemporâneo muito simples: esses três fenómenos eram
exactamente o oposto dos três factos capitais, que se davam nas nações que lá
fora cresciam, se moralizavam, se faziam inteligentes, ricas, poderosas, e
tomavam a dianteira da civilização. Aqueles três factos civilizadores foram a
liberdade moral, conquistada pela Reforma ou pela filosofia: a elevação
da classe média, instrumento do progresso nas sociedades modernas, e
directora dos reis, até ao dia em que os destronou: a indústria,
finalmente, verdadeiro fundamento do mundo actual, que veio dar às nações uma
concepção nova do Direito, substituindo o trabalho à força, e o comércio à
guerra de conquista. Ora, a liberdade moral, apelando para o exame e a
consciência individual, é rigorosamente o oposto do catolicismo do Concílio
de Trento, para quem a razão humana e o pensamento livre são um crime contra
Deus: a classe média, impondo aos reis os seus interesses, e muitas
vezes o seu espírito, é o oposto do absolutismo, esteado na aristocracia e só
em proveito dela governando: a indústria, finalmente, é o oposto do espírito
de conquista, antipático ao trabalho e ao comércio.
Assim,
enquanto as outras nações subiam, nós baixávamos. Subiam elas pelas virtudes
modernas; nós descíamos pelos vícios antigos, concentrados, levados ao sumo
grau de desenvolvimento e aplicação. Baixávamos pela indústria, pela política.
Baixávamos, sobretudo, pela religião.
Da decadência
moral é esta a causa culminante! O catolicismo do Concílio de Trento não
inaugurou certamente no mundo o despotismo religioso: mas organizou-o duma
maneira completa, poderosa, formidável, e até então desconhecida. Neste
sentido, pode dizer-se que o catolicismo, na sua forma definitiva, imobilizado e
intolerante, data do século XVI. As tendências, porém, para esse estado
vinham já de longe; nem a Reforma significa outra coisa senão o protesto do
sentimento cristão, livre e independente, contra essas tendências autoritárias
e formalísticas. Essas tendências eram lógicas, e até certo ponto legítimas,
dada a interpretação e organização romana da religião cristã: não o eram,
porém, dado o sentimento cristão na sua pureza virginal, fora das condições
precárias da sua realização política e mundana, o sentimento cristão, numa
palavra, no seu domínio natural, a consciência religiosa. É necessário, com
efeito, estabelecermos cuidadosamente uma rigorosa distinção entre cristianismo
e catolicismo, sem o que nada compreenderemos das evoluções históricas
da religião cristã. Se não há cristianismo fora do grémio católico (como
asseveram os teólogos, mas como não podem nem querem aceitar a razão, a
equidade e a crítica), nesse caso teremos de recusar o título de cristãos aos
luteranos, e a todas as seitas saídas do movimento protestante, em quem todavia
vive bem claramente o espírito evangélico. Digo mais, teremos de negar o nome
de cristãos aos apóstolos e evangelistas, porque nessa época a catolicismo
estava tão longe do futuro que nem ainda a palavra católico fora
inventada! É que realmente o cristianismo existiu e pode existir fora do
catolicismo. O cristianismo é sobretudo um sentimento: o catolicismo é
sobretudo uma instituição. Um vive da fé e da inspiração: o outro do
dogma e da disciplina. Toda a história religiosa, até ao meado do século XVI,
não é mais do que a transformação do sentimento cristão na instituição
católica. A Idade Média é o período da transição: há ainda um, e o
outro aparece já. Equilibram-se. A unidade vê-se, faz-se sentir, mas não
chega ainda a sufocar a vida local e autonómica. Por isso é também esse o período
das igrejas nacionais. As da Península, como todas as outras, tiveram, durante
a Idade Média, liberdades e iniciativas, concílios nacionais, disciplina própria,
e uma maneira sua de sentir e praticar a religião. Daqui, dois grandes
resultados, fecundos em consequências benéficas. O dogma, em vez de ser imposto,
era aceite, e, num certo sentido, criado: ora, quando a base da moral é
o dogma, só pode haver boa moral deduzindo-a dum dogma aceite, e até certo
ponto criado, e nunca imposto. Primeira consequência, de incalculável alcance.
O
sentimento do dever, em vez de ser contradito pela religião, apoiava-se nela.
Daqui a força dos caracteres, a elevação dos costumes. Em segundo lugar,
essas igrejas nacionais, por isso mesmo que eram independentes, não precisavam
oprimir. Eram tolerantes. A sombra delas, muito na sombra é verdade, mas
tolerados em todo o caso, viviam Judeus e Mouros, raças inteligentes,
industriosas, a quem a indústria e o pensamento peninsulares tanto deveram, e
cuja expulsão tem quase as proporções duma calamidade nacional. Segunda
consequência, de não menor alcance do que a primeira. Se a Península não era
então tão católica como o foi depois, quando queimava os judeus e recebia do
geral dos Jesuítas o santo e a senha da sua política, era seguramente muito
mais cristã, isto é, mais caridosa e moral, como estes factos o provam.
Rasga-se
porém o século XVI, tão prodigioso de revelações, e com ele aparece no
mundo a Reforma, seguida por quase todos os povos de raça germânica. Esta
situação cria para os povos latinos, que se conservavam aliados a Roma, uma
necessidade instante, que era ao mesmo tempo um grande problema. Tornava-se
necessário responder aos ataques dos protestantes, mostrar ao mundo que o espírito
religioso não morrera no seio das raças latinas, que debaixo da corrupção
romana havia alma e vontade. Um grito unânime de reforma saiu do meio
dos representantes da ortodoxia, opondo-se ao desafio, que, com a mesma palavra,
haviam lançado ao mundo católico Lutero, Zwingle, Ecolampado, Melanchthon e
Calvino. Reis, povos, sacerdotes, clamavam todos reforma! Mas aqui
aparecia o problema: que espécie de reforma? A opinião dos bispos e, em geral,
das populações católicas pronunciava-se no sentido duma reforma liberal, em
harmonia com o espírito da época, chegando muitos até a desejar uma conciliação
com os protestantes: era a opinião episcopal representante das igrejas
nacionais. Em Roma, porém, a solução que se dava ao problema tinha um bem
diferente carácter. O ódio e a cólera dominavam os corações dos sucessores
dos apóstolos. Repelia-se com horror a ideia de conciliação, da mais pequena
concessão. Pensava-se que era necessário fortificar a ortodoxia, concentrando
todas as forças, disciplinando e centralizando; empedernir a Igreja, para a
tornar inabalável. Era a opinião absolutista, representante do Papado.
Esta opinião (para não dizer este partido) triunfou, e foi esse triunfo uma
verdadeira calamidade para as nações católicas. Nem era isso o que elas
desejavam, e o que pediram e sustentaram os seus bispos, lutando indefesos
durante 16 anos contra a maioria esmagadora das criaturas de Roma! Pediam uma
verdadeira reforma, sincera, liberal, em harmonia com as exigências da época.
O programa formulava-se em três grandes capítulos fundamentais. 1 ° Independência
dos bispos, autonomia das igrejas nacionais, inauguração dum parlamentarismo
religioso pela convocação amiudada dos concílios, esses estados gerais do
cristianismo, superiores ao Papa e árbitros supremos dó ' mundo espiritual. 2
° O casamento para os padres, isto é, a secularização progressiva do clero,
a volta às leis da humanidade duma classe votada durante quase mil anos a um
duro ascetismo, então talvez necessário, mas já no século XVI absurdo,
perigoso, desmoralizador. 3 ° Restrições à pluralidade dos benefícios
eclesiásticos, abuso odioso, tendente a introduzir na Igreja um verdadeiro
feudalismo com todo o seu poder e desregramento. Destas reformas saía
naturalmente a humanização gradual da religião, a liberdade crescente das
consciências, e a capacidade para o cristianismo de se transformar dia a dia,
de progredir, de estar sempre à altura do espírito humano, resultado imenso e
capital que trouxe a Reforma aos povos que a seguiram. Os graves prelados, que
então combatiam pelas reformas que acabo de apresentar, não desejavam,
certamente, nem mesmo previam estas consequências, o próprio Lutero as não
previu. Mas nem por isso as consequências deixariam de ser aquelas. Bartolomeu
dos Mártires e os bispos de Cádis e Astorga não eram, seguramente, revolucionários:
representavam no Concílio de Trento a última defesa e o protesto das igrejas
da Península contra o ultramontanismo invasor: mas a obra deles é que era,
pelas consequências, revolucionária; e, trabalhando nela, estavam na corrente
e no espírito do grande e emancipador século XVI. Se houvessem alcançado essa
reforma, teríamos nós talvez, Espanhóis e Portugueses, escapado à decadência.
Quem pode hoje negar que é em grande parte à Reforma que os povos reformados
devem os progressos morais que os colocaram naturalmente à frente da civilização?
Contraste significativo, que nos apresenta hoje o mundo! As nações mais
inteligentes, mais moralizadas, mais pacíficas e mais industriosas são
exactamente aquelas que seguiram a revolução religiosa do século XVI:
Alemanha, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Suíça. As mais decadentes são
exactamente as mais católicas! Com a Reforma estaríamos hoje talvez à altura
dessas nações; estaríamos livres, prósperos, inteligentes, morais... mas
Roma teria caído!
Roma não
queria cair. Por isso resistiu longo tempo, iludiu quanto pôde os votos das nações
que reclamavam a convocação do concílio reformador. Não podendo resistir
mais tempo, cede por fim. Mas como o fez? Como cedeu Roma, dominada desde então
pelos Jesuítas? Estamos em Itália, meus senhores, no país de Machiavelli !...
Eu não digo que Roma usasse deliberada e conscientemente duma política maquiavélica:
não posso avaliar as intenções. Digo simplesmente que o parece; e que,
perante a história, a política romana em toda esta questão do Concílio de
Trento aparece com um notável carácter de habilidade e cálculo... muito pouco
evangélicos! Roma, não podendo resistir mais à ideia do concílio, explora
essa ideia em proveito próprio. Dum instrumento de paz e progresso, faz uma
arma de guerra e dominação; confisca o grande impulso reformador, e fá-lo
convergir em proveito do ultramontanismo. Como? Duma maneira simples: 1 °,
dando só aos legados do Papa o direito de propor reformas: 2°, substituindo,
ao antigo modo de votar por nações, o voto por cabeças, que lhe
dá com os seus cardeais e bispos italianos, criaturas suas, uma maioria
compacta e resolvida sempre a esmagar, a abafar os votos das outras nações.
Basta dizer que a França, a Espanha, Portugal e os estados católicos da
Alemanha nunca tiveram, juntos, número de votos superior a 60, enquanto os
italianos contavam 180, e mais! Nestas condições, o concílio deixava de ser
universal: era simplesmente italiano; nem italiano, romano apenas! Desde o
primeiro dia se pôde ver que a causa da reforma liberal estava perdida.
Provocado para essa reforma, o concílio só serviu contra ela, para a sofismar
e anular!
Composta e
armada assim na máquina, vejamo-la trabalhar. Para sujeitar na Terra o homem,
era necessário fazê-lo condenar primeiro no Céu: por isso o concílio começa
por estabelecer dogmaticamente, na sessão 5.ª, o pecado original, com
todas as suas consequências, a condenação hereditária por seus merecimentos,
mas só por obra e graça de J. Cristo. Muitos teólogos e alguns poucos sínodos
particulares se haviam já ocupado desta matéria: nenhum concílio ecuménico a
definira ainda. Um concílio verdadeiramente liberal deixava essa questão na
sombra, no indefinido, não prendia a liberdade e a dignidade humanas com essa
algema: o Concílio de Trento fez dessa definição o prólogo dos seus
trabalhos. Convinha-lhe logo no começo condenar sem apelação a razão humana,
e dar essa base ao seu edifício. Assim o fez. De então para cá, ficou
dogmaticamente estabelecido no mundo católico que o homem deve ser um corpo sem
alma, que a vontade individual é uma sugestão diabólica, e que para nos
dirigir basta o Papa em Roma e o confessor à cabeceira. Perinde ac cadaver,
dizem os estatutos da Companhia de. Jesus.
Na sessão
13 a confirma-se e precisa-se o dogma da eucaristia, já definido, ainda que
vagamente, no 4 ° Concílio de Latrão, e vibra-se o anátema sobre quem não
crer na presença real de Cristo no pão e no vinho depois da consagração.
É mais um passo (e este decisivo) para fazer entrar o cristianismo no caminho
da idolatria, para colocar o divino no absurdo. Poucos dogmas contribuíram
tanto como este materialismo da presença real para embrutecer o novo
povo, para fazer reviver nele os instintos pagãos, para lhe sofismar a razão
natural! Parece que era isto o que o concílio desejava!
Na sessão
14.ª trata-se detidamente da confissão. A confissão existia há muito na
Igreja, mas comparativamente livre e facultativa. No 4 ° Concílio de Latrão
restringira-se já bastante essa liberdade. Na sessão 14 a de Trento é a
consciência cristã definitivamente encarcerada. Sem confissão não há remissão
de pecados! A alma é incapaz de comunicar com Deus, senão por intermédio do
padre! Estabelece-se a obrigação de os fiéis se confessarem em épocas
certas, e exortam-se a que se confessem o mais que possam. Funda-se aqui o
poder, tão temível quanto misterioso, do confessionário. Aparece um tipo
singular: o director espiritual. Daí por diante há sempre na família,
imóvel à cabeceira, invisível mas sempre presente, um vulto negro que separa
o marido da mulher, uma vontade oculta que governa a casa, um intruso que manda
mais do que o dono. Quem há aqui, espanhol ou português, que não conheça
este estado deplorável da família, com um chefe secreto, em regra hostil ao
chefe visível? Quem não conhece as desordens, os escândalos, as misérias
introduzidas no lar doméstico pela porta do confessionário? O concílio não
queria isto, decerto: mas fez tudo quando era necessário para que isto
acontecesse.
Na parte
disciplinar e nas relações da Igreja com o Estado predomina o mesmo espírito
de absolutismo, de concentração, de invasão de todos os direitos. Na sessão
5 a tornam-se as ordens regulares independentes dos bispos, e quase
exclusivamente dependentes de Roma. Que arma esta na mão do Papado, que já de
si não era mais do que uma arma na mão do jesuitismo! Na sessão 13 a só o
Papa, pelos seus comissários, pode julgar os bispos e os padres. É a
impunidade para o clero! Na sessão 4 a põem-se restrições à leitura da Bíblia
pelos seculares, restrições tais que equivalem a uma verdadeira proibição.
Ora, o que é isto senão a suspeição da razão humana, condenada a pensar e a
ler pelo pensamento e pelos olhos de meia dúzia de eleitos? Nas sessões 7.ª,
9.ª, 18.ª e 24.ª estabelecem-se igualmente disposições tendentes todas a
sujeitar os governos, a impor aos povos a polícia romana, apagando
implacavelmente por toda a parte os últimos vestígios das igrejas nacionais.
Finalmente, a superioridade do Papa sobre os concílios triunfa nas sessões 23.ª
e 25.ª, pela boca do jesuíta Lainez, inspirador e alma do concílio... se é
permitido, ainda metaforicamente, falando dum jesuíta, empregar a palavra
alma... A redacção dum catecismo vem coroar esta obra de alta política. Com
esse catecismo, imposto por toda a parte e por todos os modos aos espíritos moços
e simples, tratou-se de matar a liberdade no seu gérmen, de absorver as gerações
nascentes, de as deformar e torturar, comprimindo-as nos moldes estreitos duma
doutrina seca, formal, escolástica e subtilmente ininteligível. Se se
conseguiu ou não esse resultado funesto, respondam umas poucas de nações
moribundas, enfermas da pior das enfermidades, a atrofia moral!
Sim, meus
senhores! essa máquina temerosa de compressão, que foi o catolicismo depois do
Concílio de Trento, que podia ela oferecer aos povos? A intolerância, o
embrutecimento, e depois a morte! Tomo três exemplos. Seja o primeiro a Guerra
dos Trinta Anos, a mais cruel, mais friamente encarniçada, mais
sistematicamente destruidora de quantas têm visto os tempos modernos, e que por
pouco não aniquila a Alemanha. Essa guerra, provocada pelo partido católico, e
por ele dirigida com uma perseverança infernal, mostrou bem ao mundo que
abismos de Pódio podem ocultar palavras de paz e religião. O padre não
dirigia somente, assistia à execução. Cada general trazia sempre consigo um director
jesuíta: e esses generais chamavam-se Tilly, Picolomini, os mais endurecidos
dos verdugos! Salvou então a Alemanha e a Europa a firmeza indomável de um
coração tão grande quanto puro, sereno em face dessas hordas fanáticas. O
verdadeiro herói (e único também) dessa guerra maldita, o verdadeiro santo
desse período tenebroso, é um protestante, Gustavo Adolfo. Enquanto ao Papa,
esse aplaudia a matança! O segundo exemplo é a Itália. O terror que inspirava
ao Papado a criação em Itália dum estado forte, que lhe pusesse uma barreira
à ambição crescente de dia para dia, tornou-o o maior inimigo da unidade
italiana. É o Papado quem semeia a discórdia entre as cidades e os príncipes
italianos, sempre que tentam ligar-se. É o Papado quem convida os estrangeiros
a descerem os Alpes, na cruzada contra as forças nacionais, cada vez que
parecem querer organizar-se. «O Papado», diz Edgard Quinet, «tem sido um
ferro sagrado na ferida da Itália, que a não deixa sarar.» Hoje mesmo, se
essa suspirada unidade se consumou, não foi no meio das maldições e cóleras
do clero e de Roma? O único pensamento, que hoje absorve o Papado, é
desmanchar aquela obra nacional, chamar sobre ela os ódios do mundo, o ferro
estrangeiro, podendo ser; é assassinar a Itália ressuscitada! Estes factos são
por todos sabidos. O que talvez nem todos saibam é o papel que o catolicismo
representou no assassínio da Polónia. «A intolerância dos jesuítas e
ultramontanos», diz Emílio de Lavelaye, «foi a causa primária do,
desmembramento e queda da Polónia.» Esta nação heróica, mas pouco
organizada, ou antes, pouco unificada, era uma espécie de federação de
pequenas nacionalidades, com costumes e religiões diferentes. Encravada entre
monarquias poderosas e ambiciosas, como a Áustria, a Rússia e a Turquia de então,
a Polónia só podia viver pela liberdade política, e sobretudo pela tolerância
contra o inimigo comum, os grupos autonómicos de que se compunha. A essa tolerância
deveu ela, com efeito, a força e importância que teve na história da Europa
até ao século XVII: católicos, gregos cismáticos, protestantes, socinianos,
viveram muito tempo como irmãos, numa sociedade verdadeiramente cristã porque
era verdadeiramente tolerante. Um dia, porém, os jesuítas, lá do centro de
Roma, olharam para a Polónia como para uma boa presa. Aquela nação era
efectivamente um escândalo para os bons padres. Tanto intrigaram que em 1570
tinham já logrado introduzir-se na Polónia: o rei Estêvão Bathory
concede-lhes, com uma culpável imprudência, a Universidade de Wilna. Senhores
do ensino, e em breve das consciências da nobreza católica, os jesuítas são
um poder: começam as perseguições religiosas. Em 1548, João Casimiro, que
antes de ser rei fora cardeal e jesuíta, quer obrigar os camponeses ruténios,
sectários do cisma grego, a converterem-se ao catolicismo. Estes levantam-se,
unem-se aos cossacos, também do rito grego, e começa uma guerra formidável,
cujo resultado foi separarem-se cossacos e ruténios da federação polaca,
dando-se à Rússia, em cujas mãos se tornaram uma arma terrível sempre
apontada ao coração da Polónia. Nunca esta nação teve inimigos tão encarniçados
como os cossacos! Sem eles, a Polónia, enfraquecida entre vizinhos formidáveis,
devia cair, e caiu efectivamente. A partilha espoliadora de 1772 não fez mais
do que confirmar um facto já antigo, a nulidade da nação polaca.
Assim
pois, meus senhores, o catolicismo dos últimos séculos, pelo seu princípio,
pela sua disciplina, pela sua política, tem sido no mundo o maior inimigo das
nações, e verdadeiramente o túmulo das nacionalidades. «O antro da Esfinge»,
disse dele um poeta filósofo, «reconhece-se logo à entrada pelos ossos dos
povos devorados.»
E a nós,
Espanhóis e Portugueses, como foi que o catolicismo nos anulou? O catolismo
pesou sobre nós por todos os lados, com todo o seu peso. Com a Inquisição, um
terror invisível paira sobre a sociedade: a hipocrisia torna-se um vício
nacional e necessário: a delação é uma virtude religiosa: a expulsão dos
judeus e mouros empobrece as duas nações, paralisa o comércio e a indústria,
e dá um golpe mortal na agricultura em todo o Sul da Espanha: a perseguição
dos cristãos-novos faz desaparecer os capitais: a Inquisição passa os mares,
e, tornando-nos hostis os índios, impedindo a fusão dos conquistadores e dos
conquistados, torna impossível o estabelecimento duma colonização sólida e
duradoura: na América despovoa as Antilhas, apavora as populações indígenas,
e faz do nome de cristão um símbolo de morte; o terror religioso, finalmente,
corrompe o carácter nacional, e faz de duas nações generosas hordas de fanáticos
endurecidos, o horror da civilização. Com o jesuitismo desaparece o sentimento
cristão, para dar lugar aos sofismas mais deploráveis a que jamais desceu a
consciência religiosa: métodos de ensino, ao mesmo tempo brutais e
requintados, esterilizam as inteligências, dirigindo-se à memória, com o fim
de matarem o pensamento inventivo, e alcançam alhear o espírito peninsular do
grande movimento da ciência moderna, essencialmente livre e criadora: a educação
jesuítica faz das classes elevadas máquinas inteligentes e passivas; do povo,
fanáticos corruptos e cruéis: a funesta moral jesuítica, explicada (e
praticada) pelos seus casuístas, com as suas restrições mentais, as suas
subtilezas, os seus equívocos, as suas condescendências, infiltra-se por toda
a parte, como um veneno lento, desorganiza moralmente a sociedade, desfaz o espírito
de família, corrompe as consciências com a oscilação contínua da noção do
dever, e aniquila os caracteres, sofismando-os, amolecendo-os: o ideal da educação
jesuítica é um povo de crianças mudas, obedientes e imbecis, realizou-o nas
famosas -missões do Paraguai; o Paraguai foi o reino dos céus da Companhia de
Jesus; perfeita ordem, perfeita devoção; uma coisa só faltava, a alma, isto
é, a dignidade e a vontade, o que distingue o homem da animalidade! Eram estes
os benefícios que levávamos às raças selvagens da América, pelas mãos
civilizadoras dos padres da Companhia! Por isso o génio livre popular decaiu,
adormeceu por toda a parte: na arte, na literatura, na religião. Os santos da
época já não têm aquele carácter simples, ingénuo, dos verdadeiros santos
populares: são frades beatos, são jesuítas hábeis. Os sermonários e mais
livros de devoção, não sei por que lado sejam mais vergonhosos; se pela
nulidade das ideias, pela baixeza do sentimento, ou pela puerilidade ridícula
do estilo. Enquanto à arte e literatura, mostrava-se bem clara a decadência
naquelas massas estúpidas de pedra da arquitectura jesuítica, e na poesia
convencional das academias, ou nas odes ao divino e jaculatórias fradescas. O génio
popular, esse morrera às mãos do clero, como com tanta evidência o deixou
demonstrado nos seus recentes livros, tão cheios de novidades, sobre a
literatura portuguesa, o Sr. Teófilo Braga. Os costumes saídos desta escola
sabemos nós o que foram. Já citei a Arte de Furtar, os romances
picarescos, as farsas populares, o teatro espanhol, os
escritos de D. Francisco Manuel e do Cavaleiro de Oliveira. Na falta destes
documentos, bastava-nos a tradição, que ainda hoje reza dos escândalos dessa
sociedade aristocrática e clerical! Essa funesta influência da direcção católica
não é menos visível no mundo político. Como é que o absolutismo espiritual
podia deixar de reagir sobre o espírito do poder civil? O exemplo do despotismo
vinha de tão alto! os reis eram tão religiosos! Eram por excelência os reis
católicos, fidelíssimos. Nada forneceu pelo exemplo, pela autoridade, pela
doutrina, pela instigação, um tamanho ponto de apoio ao poder absoluto como o
espírito católico e a influência jesuítica. Nesses tempos santos, os
verdadeiros ministros eram os confessores dos reis. A escolha do confessor era
uma questão de Estado. A paixão de dominar, e o orgulho criminoso de um homem,
apoiavam-se na palavra divina. A teocracia dava a mão ao despotismo. Essa direcção
via-se claramente na política externa. A política, em vez de curar dos
interesses verdadeiros do povo, de se inspirar de um pensamento nacional, traía
a sua missão, fazendo-se instrumento da política católica romana, isto
é, dos interesses, das ambições de um estrangeiro. D. Sebastião, o discípulo
dos jesuítas, vai morrer nos areais de África pela fé católica, não
pela nação portuguesa. Carlos V, Filipe II, põem o mundo a ferro e fogo,
porquê? Pelos interesses espanhóis? Pela grandeza de Espanha? Não: pela
grandeza e pelos interesses de Roma! Durante mais de 70 anos, a Espanha,
dominada por estes dois inquisidores coroados, dá o melhor do seu sangue, da
sua riqueza, da sua actividade, para que o Papa desse outra vez leis à
Inglaterra e à Alemanha. Era essa a política nacional desses reis
famosos: eu chamo a isto simplesmente trair as nações.
Tal é uma
das causas, se não a principal, da decadência dos povos peninsulares. Das
influências deletérias nenhuma foi tão universal, nenhuma lançou tão fundas
raízes. Feriu o homem no que há de mais íntimo, nos pontos mais essenciais da
vida moral, no crer, no sentir – no ser: envenenou a vida nas suas
fontes mais secretas. Essa transformação da alma peninsular fez-se em tão íntimas
profundidades que tem escapado às maiores revoluções; passam por cima dessa
região quase inacessível, superficialmente, e deixaram-na na sua inércia
secular, Há em todos nós, por mais modernos que queiramos ser, há lá oculto,
dissimulado, mas não inteiramente morto, um beato, um fanático ou um jesuíta!
Esse moribundo que se ergue dentro em nós é o inimigo, é o passado. É
preciso enterrá-lo por uma vez, e como ele o espírito sinistro do catolicismo
de Trento.
Esta causa
actuou principalmente sobre a vida moral: a segunda, o absolutismo, apesar de se
reflectir no estado dos espíritos, actuou principalmente na vida política e
social. A história da transformação das monarquias peninsulares é longa, e,
para a minha pouca ciência, obscura e até certo ponto desconhecida: não a
poderia eu fazer aqui. Basta dizer que o carácter dessas monarquias durante a
Idade Média contrasta singularmente com o que lhe encontramos no século XVI e
nos seguintes. Os reis então não eram absolutos; e não o eram porque a vida
política local, forte e vivaz, não só não lhes deixava um grande círculo de
acção, mas ainda, dentro desse mesmo círculo, lhes opunha à expansão da
autoridade embaraços e uma contínua vigilância. Os privilégios da nobreza e
do clero, por um lado, e, pelo outro, as instituições populares, os municípios,
as comunas, equilibravam com mais ou menos oscilações o peso da coroa. Para as
questões sumas, para os momentos de crise, lá estavam as Cortes, onde todas as
classes sociais tinham representantes e voto. A liberdade era então o estado
normal da Península.
No século
XVI tudo isto mudou. O poder absoluto assenta-se sobre a ruína das instituições
locais. Abaixou a nobreza, é verdade, mas só em proveito seu: o povo pouco
lucrou com essa revolução. O que é certo é que perdeu a liberdade. A vida
municipal afrouxa gradualmente: as comunas espanholas, depois dum sangrento
protesto, caem exânimes, aos pés dum rei, que nem sequer era inteiramente
espanhol. As instituições locais, cerceadas por todos os lados, sentem
faltar-lhes em volta o ar, e o chão debaixo de si. Quem poderá jamais contar
essas invasões surdas, insensíveis do poder real no terreno do povo, essas
lutas subterrâneas, as abdicações sucessivas da vontade nacional nas mãos de
um homem. as resistências infelizes, a longa e cruel história do
desaparecimento dos foros populares? É uma história tão triste quanto
obscura, que ninguém fez nem fará jamais! Vê-se o desfecho do drama: os
incidentes escapam-nos. Mas ao lado dessa luta surda houve outra manifesta, cuja
história se erguerá sempre como um espectro vingador, para acusar a realeza.
Essa luta é a grande guerra communera das cidades espanholas. Vencidas,
esmagadas pela força, as cidades espanholas encontraram um herói, de cujo
peito saiu ardente um protesto, que será eterno como a condenação de quem o
provocou. Eis aqui o que D. Juan de Padilla, chefe dos communeros,
escrevia à sua cidade de Toledo, horas antes de ser decapitado. «A ti, cidade
de Toledo, que és a coroa de Espanha, e a luz do mundo, que já no tempo dos
Godos eras livre, e que prodigalizaste o teu sangue para assegurar a tua
liberdade e a das cidades tuas irmãs, Juan de Padilha, teu filho legítimo, te
faz saber que pelo sangue do seu corpo mais uma vez vão ser renovadas as tuas
antigas vitórias...» A cabeça de Padilha rolou, e com ele, decapitada também,
caiu a antiga liberdade municipal. A centralização monárquica, pesada,
uniforme, caiu sobre a Península como a pedra dum túmulo. A respiração de
milhares de homens suspendeu-se, para se concentrar toda no peito de um homem
excepcional, de quem o acaso do nascimento fazia um deus. Se, ao menos, esse
deus fosse propício, bom, providencial! Mas a centralização do absolutismo,
prostrando o povo, corrompia ao mesmo tempo o rei. D. João III, esse rei fanático
e de ruim condição, Filipe II, o demónio do Meio-Dia, inquisidor e
verdugo das nações, Filipe III, Carlos IV, João V, Afonso VI, devassos uns,
outros desordeiros, outros ignorantes e vis, são bons exemplos da realeza
absoluta, enfatuada até ao vício, até ao crime, do orgulho do próprio poder,
possessa daquela loucura cesariana com que a Natureza faz expiar aos déspotas
a desigualdade monstruosa, que os põe como que fora da Humanidade. A tais
homens, sem garantias, sem inspecção, confiaram as nações cegamente os seus
destinos! Se Filipe II não fosse absoluto, jamais teria podido tentar o seu
absurdo projecto de conquistar a Inglaterra, não teria feito sepultar nas águas
do oceano, com a Invencível Armada, milhares de vidas e um capital
prodigioso inteiramente perdido. Se D. Sebastião não fosse absoluto, não
teria ido enterrar em Alcácer Quibir a nação portuguesa, as últimas esperanças
da pátria.
Outras
monarquias, a francesa por exemplo, sujeitavam o povo, mas ajudavam por outro
lado o seu progresso. Aristocráticas pelas raízes, tinham pelos frutos muito
de populares. A burguesia, a quem estava destinado o futuro, erguia-se,
começava a ter voz. As nossas monarquias, porém, tiveram um carácter
exclusivamente aristocrático: eram-no pelo princípio, e eram-no pelos
resultados. Governava-se então pela nobreza e para a nobreza. As consequências
sabemo-las nós todos. Pelos morgados, vinculou-se a terra, criaram-se imensas
propriedades. Com isto, anulou-se a classe dos pequenos proprietários; a grande
cultura sendo então impossível, e desaparecendo gradualmente a pequena, a
agricultura caiu; metade da Península transformou-se numa charneca: a população
decresceu, sem que por isso se aliviasse a miséria. Por outro lado, o espírito
aristocrático da monarquia, opondo-se naturalmente aos progressos da classe média,
impediu o desenvolvimento da burguesia, a classe moderna por excelência,
civilizadora e iniciadora, já na indústria, já nas ciências, já no comércio.
Sem ela, o que podíamos nós ser nos grandes trabalhos com que o espírito
moderno tem transformado a sociedade, a inteligência e a natureza? O que
realmente fomos; nulos, graças à monarquia aristocrática!,Essa monarquia,
acostumando o povo a servir, habituando-o à inércia de quem espera tudo -de
cima, obliterou o sentimento instintivo da liberdade, quebrou a energia das
vontades, adormeceu a iniciativa; quando mais tarde lhe deram a liberdade, não
a compreendeu; ainda hoje a não compreende, nem sabe usar dela. As revoluções
podem chamar por ele, sacudi-lo com força: continua dormindo sempre o seu sono
secular! A estas influências deletérias, a estas dias causas principais de
decadência, uma moral e outra política, junta-se uma terceira, de carácter
sobretudo económico: as conquistas. Há dois séculos que os livros, as tradições
e a memória dos homens andam cheios dessa epopeia guerreira, que os povos
peninsulares, atravessando oceanos desconhecidos, deixaram escrita por todas as
partes do mundo. Embalaram-nos com essas histórias: atacá-Ias é quase um
sacrilégio. E todavia esse brilhante poema em acção foi uma das maiores
causas da nossa decadência. É necessário dizê-lo, em que pese aos nossos
sentimentos mais caros de patriotismo tradicional. Tanto mais que um erro económico
não é necessariamente uma vergonha nacional. No ponto de vista heróico, quem
pode negá-lo? Foi esse movimento das conquistas espanholas e portuguesas um relâmpago
brilhante, e por certos lados sublime, da alma intrépida peninsular. A
moralidade subjectiva desse movimento é indiscutível perante a história: são
do domínio da poesia, e sê-lo-ão sempre, acontecimentos que puderam inspirar
a grande alma de Camões. A desgraça é que esse espírito guerreiro estava
deslocado nos tempos modernos: as nações modernas estão condenadas a não
fazerem poesia, mas ciência. Quem domina não é já a musa heróica da
epopeia; é a economia política, Calíope dum mundo novo, se não tão belo,
pelo menos mais justo e lógico do que o antigo. Ora, é à luz da economia política
que eu condeno as conquistas e o espírito guerreiro. Quisemos refazer os tempos
heróicos da idade moderna: enganámo-nos; não era possível; caímos. Qual é,
com efeito, o espírito da idade moderna? É o espírito de trabalho e de
indústria: a riqueza e a vida das nações têm de se tirar da
actividade produtora, e não já da guerra esterilizadora. O que sai da guerra não
só acaba cedo, mas é além disso um capital morto, consumido sem resultado. E
necessário que o trabalho, sobretudo a indústria agrícola, o fecunde, lhe dê
vida. Domina todo este assunto uma lei económica, formulada por Adão Smith, um
dos pais da ciência, nas seguintes palavras: «O capital adquirido pelo comércio
e pela guerra só se torna real e produtivo quando se fixa na cultura da terra e
nas outras indústrias.» Vejamos o que tem feito a Inglaterra com a índia, com
a Austrália, e com o comércio do mundo. Explora, combate: mas a riqueza
adquirida fixa-a no seu solo, pela sua poderosa indústria, e pela sua
agricultura, talvez a mais florescente do mundo. Por isso a prosperidade da
Inglaterra há dois séculos tem sido a admiração e quase a inveja das nações.
Pelo contrário, nós, Portugueses e Espanhóis, que destinos demos às
prodigiosas riquezas extorquidas aos povos estrangeiros? Respondam a nossa indústria
perdida, o comércio arruinado, a população diminuída, a agricultura
decadente, e esses desertos da Beira, do Alentejo, da Estremadura espanhola, das
Castelas, onde não se encontra uma árvore, um animal doméstico, uma face
humana!
Um
exemplo, o da agricultura portuguesa antes e depois do século XVI, porá em
evidência, com factos significativos, essa influência perniciosa do espírito
de conquista no mundo económico. Esses factos são extraídos de três obras,
cuja autoridade é incontestável: a Memória histórica de Alexandre de
Gusmão sobre a agricultura portuguesa; o livro de Camillo Pallavicini La
economia agraria del Portogallo; e a História da Agricultura em Portugal,
pelo Sr. Rebelo da Silva. Uma coisa que impressiona quem estuda os primeiros séculos
da monarquia portuguesa é o carácter essencialmente agrícola dessa sociedade.
Os cognomes dos reis, o Povoador, o Lavrador, já por si são
altamente significativos. No meio das guerras, e apesar da imperfeição das
instituições, a população crescia, e a abundância generalizava-se. A
arborização do país desenvolvia-se, a charneca recuava diante do trabalho. As
armadas, que mais tarde dominaram os mares, saíram das matas semeadas por D.
Dinis. No reinado de D. Fernando era Portugal um dos países que mais
exportavam. A Castela, a Galiza, a Flandres, a Alemanha, forneciam-se quase
exclusivamente de azeite português; a nossa prosperidade agrícola era
suficiente para abastecer tão vastos mercados. O comércio dos cereais era
considerável. No século XV vinham os navios venezianos a Lisboa e aos portos
do Algarve, trazendo as mercadorias do Oriente, e levando em troca cereais,
peixe salgado e frutas secas, que espalhavam pela Dalmácia e por toda a Itália.
Sustentávamos também um activo comércio com a Inglaterra. As classes
populares desenvolviam-se pela abundância e o trabalho, a população crescia.
No tempo de D. João II chegara a população a muito perto de três milhões de
habitantes... Basta comparar este algarismo com o da população em 1640, que
escassamente excedia um milhão, para se conhecer que uma grande decadência se
operou durante este intervalo!
Dera-se,
com efeito, durante o século XVI, uma deplorável revolução nas condições
económicas da sociedade portuguesa, revolução sobretudo devida ao novo estado
de coisas criadas pelas conquistas. O proprietário, o agricultor, deixam a
charrua e fazem-se soldados, aventureiros: atravessam o oceano, à procura de glória,
de posição mais brilhante ou mais rendosa. Atraída pelas riquezas acumuladas
nos grandes centros, a população rural aflui para ali, abandona os campos, e
vem aumentar nas capitais o contingente da miséria, da domesticidade ou do vício.
A cultura diminui gradualmente. Com essa diminuição, e com a depreciação
relativa dos metais preciosos pela afluência dos tesouros do Oriente e América,
os cereais chegam a preços fabulosos. O trigo, que em 1460 valia 10 réis por
alqueire, tem subido, em 1520, a 20 réis, 30 e 35! Por isso o preço nos
mercados estrangeiros, nem sequer pode cobrir o custo originário: a concorrência
doutras nações, que produziam mais barato, esmaga-nos. Não só deixamos de
exportar, mas passamos a importar: «Do reinado de D. Manuel em diante», diz
Alexandre de Gusmão, «somos sustentados pelos estrangeiros.» Esse sustento
podiam-no pagar os grandes, que a Índia e o Brasil enriqueciam. A multidão,
porém, morria de fome. A miséria popular era grande. A esmola à portaria dos
conventos e casas fidalgas passou a ser uma instituição. Mendigavam os bandos
pelas estradas. A tradição, num símbolo terrivelmente expressivo,
apresenta-nos Camões, o cantor dessas glórias que nos empobreciam, mendigando
para sustentar a velhice triste e desalentada. É uma imagem da nação. As crónicas
falam-nos de grandes fomes. Por tudo isto, decrescia a olhos vistos a população.
Que remédio se procura a este mal? um mal incomparavelmente maior: a escravidão!
Tenta-se introduzir o trabalho servil nas culturas, com escravos vindos da África!
Felizmente não passou de tentativa. Era a transformação dum país livre e
civilizado numa coisa monstruosa, uma oligarquia de senhores de roça! A
barbaridade dos devastadores da América, transportada para o meio da Europa!
Com estes elementos o que se podia esperar da indústria? Uma decadência total.
Não se fabrica, não se cria: basta o ouro do Oriente para pagar a indústria
dos outros, enriquecendo-os, instigando-os ao trabalho produtivo, e ficando nós
cada vez mais pobres, com as mãos cheias de tesouros! Importávamos tudo: de Itália,
sedas, veludos, brocados, massas; da Alemanha, vidro; de França, panos; de
Inglaterra e Holanda, cereais, lãs, tecidos. Havia então uma única indústria
nacional... a Índia! Vai-se à Índia buscar um nome e uma fortuna, e volta-se
para gozar, dissipar esterilmente. A vida concentra-se na capital. Os nobres
deixam os campos, os solares dos seus maiores, onde viviam em certa comunhão
com o povo, e vêm para a corte brilhar, ostentar... e mendigar nobremente. O
fidalgo faz-se cortesão: o homem do povo, não podendo já ser trabalhador,
faz-se lacaio: a libré é o selo da sua decadência. A criadagem duma casa
nobre era um verdadeiro estado. O luxo da nobreza tinha alguma coisa de
oriental. Ao luxo desenfreado, ao vício, à corrupção, mal dista um passo. A
paixão do jogo estendeu-se terrivelmente: jogava-se nas tavolagens, e jogava-se
nos palácios. O ócio, acendendo as imaginações, levava pelo galanteio às
intrigas amorosas, às aventuras, ao adultério, e arruinava a família. Lisboa
era uma capital de fidalgos ociosos, de plebeus mendigos, e de rufiões.
Ao longe,
fora do país, foram outras as consequências do espírito de conquista, mas
igualmente funestas. A escravatura (além de todas as suas deploráveis consequências
morais) esterilizou pelo trabalho servil. Só o trabalho livre é fecundo: só
os resultados do trabalho livre são duradouros. Das colónias que os Europeus
fundaram no Novo Mundo quais prosperaram? Quais ficaram estacionárias?
Prosperaram na razão directa do trabalho livre: o Norte dos Estados Unidos mais
do que o Sul: os Estados Unidos mais do que o Brasil. E essa jovem Austrália,
cuja população duplica todos os 10 anos, que já exporta para a Europa os seus
produtos, cujas instituições são já hoje modelo e inveja para os povos
civilizados, e que será antes de um século uma das maiores nações do mundo,
a que deve ela essa prosperidade fenomenal, senão ao influxo maravilhoso do
trabalho livre, numa terra que ainda não pisou o pé dum homem que se não
dissesse livre? A Austrália tem feito em menos de 100 anos de liberdade o que o
Brasil não alcançou com mais de três séculos de escravatura! Fomos nós,
foram os resultados do nosso espírito guerreiro, quem condenou o Brasil ao
estacionamento, quem condenou à nulidade toda essa costa de África, em que
outras mãos podiam ter talhado à larga uns poucos de impérios! Esse espírito
guerreiro, com os olhos fitos na luz de uma falsa glória, desdenha,
desacredita, envilece o trabalho manual – o trabalho manual, a força das
sociedades modernas, a salvação e a glória das futuras... Mas um fantástico
idealismo perturba a alma do guerreiro: não distingue entre interesse honroso e
interesse vil: só as -grandes acções de esforço heróico são belas a seus
olhos: para ele a indústria pacífica é só própria de mãos servis. A tradição,
que nos apresenta D. João de Castro, depois duma campanha em África,
retirando-se à sua quinta de Sintra, onde se dava àquela estranha e nova
agricultura de cortar as árvores de fruto, e plantar em lugar delas árvores
silvestres, essa tradição deu-nos um perfeito símbolo do espírito guerreiro
no seu desprezo pela indústria. Portugal, o Portugal das conquistas, é esse
guerreiro altivo, nobre e fantástico, que voluntariamente arruína as suas
propriedades, para maior glória do seu absurdo idealismo. E já que falei em D.
João de Castro, direi que poucos livros têm feito tanto mal ao espírito
português como aquela biografia do herói escrita por Jacinto Freire. J.
Freire, que era padre, que nunca vira a índia, e que ignorava tão
profundamente a política como a economia política, fez da vida e feitos de D.
João de Castro, não um estudo de ciência social, mas um discurso académico,
literário e muito eloquente, seguramente, mas enfático, sem crítica, e
animado por um falso ideal de glória à antiga, glória clássica, através
do qual nos faz ver continuamente as acções do seu herói. Há dois séculos
que lemos todos o D. João de Castro, de Jacinto Freire, e acostumámo-nos a
tomar aquela fantasia de retórico pelo tipo do verdadeiro herói nacional.
Falseámos com isto o nosso juízo, e a crítica. duma época importante. É
preciso que se saiba que a verdadeira glória moderna não é aquela: é
exactamente o contrário daquela. Uma só coisa há ali a aproveitar como
exemplo: é a nobreza de alma daquele homem magnânimo: mas essa nobreza de alma
deve ser aplicada pelos homens modernos a outros cometimentos, e dum modo muito
diverso. Foi aquele género de heroísmo tão apregoado por J. Freire que nos
arruinou!
Como era
possível, com as mãos cheias de sangue, e os corações cheios de orgulho,
iniciar na civilização aqueles povos atrasados, unir por interesses e
sentimentos os vencedores e os vencidos, cruzar as raças, e fundar assim,
depois do domínio momentâneo da violência, o domínio duradouro e justo da
superioridade moral e do progresso? As conquistas sobre as nações atrasadas,
por via de regra, não são justas nem injustas. Justificam-se ou condenam-nas
os resultados, o uso que mais tarde se faz do domínio estabelecido pela força.
As conquistas romanas são hoje justificadas pela filosofia da história, porque
criaram uma civilização superior àquela de que viviam os povos conquistados.
A conquista da índia pelos Ingleses é justa, porque é civilizadora. A
conquista da índia pelos Portugueses, da América pelos Espanhóis, foi
injusta, porque não civilizou. Ainda quando fossem sempre vitoriosas as nossas
armas, a índia ter-nos-ia escapado, porque sistematicamente alheávamos os espíritos,
aterrávamos as populações, cavávamos pelo espírito religioso e aristocrático
um abismo entre a minoria dos conquistadores e a maioria dos vencidos. Um dos
primeiros benefícios, que levámos àqueles povos, foi a Inquisição:
os Espanhóis fizeram o mesmo na América. As religiões indígenas não eram só
escarnecidas, vilipendiadas: eram atrozmente perseguidas. O efeito moral dos
trabalhos dos missionários (tantos deles santamente heróicos!) era
completamente anulado por aquela ameaça constante do terror religioso: ninguém
se deixa converter por uma caridade que tem atrás de si uma fogueira! A
ferocidade dos Espanhóis na América é uma coisa sem nome, sem paralelo nos
anais da bestialidade humana. Dois impérios florescentes desaparecem em menos
de 60 anos! em menos de 60 anos são destruídos dez milhões de homens! Dez
milhões! Estes algarismos são trágicos: não precisam de comentários. E,
todavia, poucas raças se têm apresentado aos conquistadores tão banais, ingénuas,
dóceis, prontas a receberem com o coração a civilização que se lhes impunha
com as armas! Bartolomeu de Ias Casas, bispo de Chiapa, um verdadeiro santo,
protestou em vão contra aquelas atrocidades: consagrou a sua vida evangélica
à causa daqueles milhões de infelizes: por duas vezes passou à Europa, para
advogar solenemente a causa deles perante Carlos V. Tudo em vão! A obra da
destruição era fatal: tinha de se consumar, e consumou-se.
Há, com
efeito, nos actos condenáveis dos povos peninsulares, nos erros da sua política,
e na decadência que os colheu, alguma coisa de fatal: é a lei de evolução
histórica, que inflexível e impassivelmente tira as consequências dos princípios
uma vez introduzidos na sociedade. Dado o catolicismo absoluto, era impossível
que se lhe não seguisse, deduzindo-se dele, o absolutismo monárquico. Dado o
absolutismo, vinha necessariamente o espírito aristocrático, com o seu cortejo
de privilégios, de injustiças, com o predomínio das tendências guerreiras
sobre as industriais. Os erros políticos e económicos saíam daqui
naturalmente; e de tudo isto, pela transgressão das leis da vida social, saía
naturalmente também a decadência sob todas as formas.
E essas
falsas condições sociais não produziram somente os efeitos que apontei.
Produziram um outro, que, por ser invisível e insensível, nem por isso deixa
de ser o mais fatal. É o abatimento, a prostração do espírito nacional,
pervertido e atrofiado por uns poucos de séculos da mais nociva educação. As
causas, que indiquei, cessaram em grande parte: mas os efeitos morais persistem,
e é a eles que devemos atribuir a incerteza, o desânimo, o mal-estar da nossa
sociedade contemporânea. A influência do espírito católico, no seu pesado
dogmatismo, deve ser atribuída esta indiferença universal pela filosofia, pela
ciência, pelo movimento moral e social moderno, este adormecimento sonambulesco
em face da revolução do século XIX, que é quase a nossa feição característica
e nacional entre os povos da Europa. Já não cremos, certamente, com o ardor
apaixonado e cego de nossos avós, nos dogmas católicos: mas continuamos a
fechar os olhos às verdades descobertas pelo pensamento livre.
Se a
Igreja nos incomoda com as suas exigências, não deixa por isso também de nos
incomodar a Revolução com as lutas. Fomos os Portugueses intolerantes e fanáticos
dos séculos XVI, XVII e XVIII: somos agora os Portugueses indiferentes do século
XIX. Por outro lado, se o poder absoluto da monarquia acabou, persiste a inércia
política das populações, a necessidade (e o gosto talvez) de que as governem,
persistem a centralização e o militarismo, que anulam, que reduzem ao absurdo
as liberdades constitucionais. Entre o senhor rei de então, e os senhores
influentes de hoje, não há tão grande diferença: para o povo é sempre a
mesma a servidão. Éramos mandados, somos agora governados: os
dois termos quase que se equivalem. Se a velha monarquia desapareceu,
conservou-se o velho espírito monárquico: é quanto basta para não estarmos
muito melhor do que nossos avós. Finalmente, do espírito guerreiro da nação
conquistadora, herdámos um invencível horror ao trabalho e um íntimo desprezo
pela indústria. Os netos dos conquistadores de dois mundos podem, sem desonra,
consumir no ócio o tempo e a fortuna, ou mendigar pelas secretarias um emprego:
o que não podem, sem indignidade, é trabalhar! Uma fábrica, uma
oficina, uma exploração agrícola ou mineira, são coisas impróprias da nossa
fidalguia. Por isso as melhores indústrias nacionais estão nas mãos dos
estrangeiros, que com elas se enriquecem, e se riem das nossas pretensões.
Contra o trabalho manual, sobretudo, é que é universal o preconceito:
parece-nos um símbolo servil! Por ele sobem as classes democráticas em todo o
mundo, e se engrandecem as nações; nós preferimos ser uma aristocracia de
pobres ociosos, a ser uma democracia próspera de trabalhadores. É o fruto que
colhemos duma educação secular de tradições guerreiras e enfáticas!
Dessa
educação, que a nós mesmos demos durante três séculos, provêm todos os
nossos males presentes. As raízes do passado rebentam por todos os lados no
nosso solo: rebentam sob forma de sentimentos, de hábitos, de preconceitos.
Gememos sob o peso dos erros históricos. A nossa fatalidade a nossa história,
Que é
pois necessário para readquirirmos o nosso lugar na civilização? Para
entrarmos outra vez na comunhão da Europa culta? É necessário um esforço
viril, um esforço supremo: quebrar resolutamente com o passado. Respeitemos a
memória dos nossos avós: memoremos piedosamente os actos deles: mas não os
imitemos. Não sejamos, à luz do século XIX, espectros a que dá uma vida
emprestada o espírito do século XVI. A esse espírito moral oponhamos
francamente o espírito moderno. Oponhamos ao catolicismo, não a
indiferença ou uma fria negação, mas a ardente afirmação da alma nova, a
consciência livre, a contemplação directa do divino pelo humano (isto é, a
fusão do divino e do humano), a filosofia, a ciência, e a crença no
progresso, na renovação incessante da Humanidade pelos recursos inesgotáveis
do seu pensamento, sempre inspirado. Oponhamos à monarquia centralizada,
uniforme e impotente, a federação republicana de todos os grupos autonómicos,
de todas as vontades soberanas, alargando e renovando a vida municipal,
dando-lhe um carácter radicalmente democrático, porque só ela é a base e o
instrumento natural de todas as reformas práticas, populares, niveladoras.
Finalmente, à inércia industrial oponhamos a iniciativa do trabalho
livre, a indústria do povo, pelo povo, e para o povo, não dirigida e protegida
pelo Estado, mas espontânea, não entregue à anarquia cega da concorrência,
mas organizada duma maneira solidária e equitativa, operando assim gradualmente
a transição para o novo mundo industrial do socialismo, a quem pertence o
futuro. Esta é a tendência do século: esta deve também ser a nossa. Somos
uma raça decaída por ter rejeitado o espírito moderno: regenerar-nos-emos
abraçando francamente esse espírito. O seu nome é Revolução: revolução não
quer dizer guerra, mas sim paz: não quer dizer licença, mas sim ordem, ordem
verdadeira pela verdadeira liberdade. Longe de apelar para a insurreição,
pretende preveni-la, torná-la impossível: só os seus inimigos,
desesperando-a, a podem obrigar a lançar mãos das armas. Em si, é um verbo de
paz, porque é o verbo humano por excelência.
Meus
senhores: há 1800 anos apresentava o mundo romano um singular espectáculo. Uma
sociedade gasta, que se aluía, mas que, no seu aluir-se, se debatia, lutava,
perseguia, para conservar os seus privilégios, os seus preconceitos, os seus vícios,
a sua podridão: ao lado dela, no meio dela, uma sociedade nova, embrionária, só
rica de ideias, aspirações e justos sentimentos, sofrendo, padecendo, mas
crescendo por entre os padecimentos. A ideia desse mundo novo impõe-se
gradualmente ao mundo velho, converte-o, transforma-o: chega um dia em que o
elimina, e a Humanidade conta mais uma grande civilização.
Chamou-se
a isto o Cristianismo.
Pois bem,
meus senhores: o Cristianismo foi a Revolução do mundo antigo: a Revolução não
é mais do que o Cristianismo do mundo moderno.
![]()
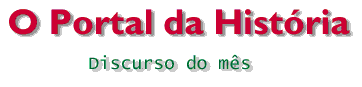
![]()

![]()
![]()
![]()