CAUSAS
DA DECADÊNCIA DOS POVOS PENINSULARES
NOS ÚLTIMOS TRÊS SÉCULOS
Parte 3/3
1.ª Parte | 2.ª Parte
Texto completo
Outras
monarquias, a francesa por exemplo, sujeitavam o povo, mas ajudavam por outro
lado o seu progresso. Aristocráticas pelas raízes, tinham pelos frutos muito
de populares. A burguesia, a quem estava destinado o futuro, erguia-se,
começava a ter voz. As nossas monarquias, porém, tiveram um carácter
exclusivamente aristocrático: eram-no pelo princípio, e eram-no pelos
resultados. Governava-se então pela nobreza e para a nobreza. As consequências
sabemo-las nós todos. Pelos morgados, vinculou-se a terra, criaram-se imensas
propriedades. Com isto, anulou-se a classe dos pequenos proprietários; a grande
cultura sendo então impossível, e desaparecendo gradualmente a pequena, a
agricultura caiu; metade da Península transformou-se numa charneca: a população
decresceu, sem que por isso se aliviasse a miséria. Por outro lado, o espírito
aristocrático da monarquia, opondo-se naturalmente aos progressos da classe média,
impediu o desenvolvimento da burguesia, a classe moderna por excelência,
civilizadora e iniciadora, já na indústria, já nas ciências, já no comércio.
Sem ela, o que podíamos nós ser nos grandes trabalhos com que o espírito
moderno tem transformado a sociedade, a inteligência e a natureza? O que
realmente fomos; nulos, graças à monarquia aristocrática!,Essa monarquia,
acostumando o povo a servir, habituando-o à inércia de quem espera tudo -de
cima, obliterou o sentimento instintivo da liberdade, quebrou a energia das
vontades, adormeceu a iniciativa; quando mais tarde lhe deram a liberdade, não
a compreendeu; ainda hoje a não compreende, nem sabe usar dela. As revoluções
podem chamar por ele, sacudi-lo com força: continua dormindo sempre o seu sono
secular! A estas influências deletérias, a estas dias causas principais de
decadência, uma moral e outra política, junta-se uma terceira, de carácter
sobretudo económico: as conquistas. Há dois séculos que os livros, as tradições
e a memória dos homens andam cheios dessa epopeia guerreira, que os povos
peninsulares, atravessando oceanos desconhecidos, deixaram escrita por todas as
partes do mundo. Embalaram-nos com essas histórias: atacá-Ias é quase um
sacrilégio. E todavia esse brilhante poema em acção foi uma das maiores
causas da nossa decadência. É necessário dizê-lo, em que pese aos nossos
sentimentos mais caros de patriotismo tradicional. Tanto mais que um erro económico
não é necessariamente uma vergonha nacional. No ponto de vista heróico, quem
pode negá-lo? Foi esse movimento das conquistas espanholas e portuguesas um relâmpago
brilhante, e por certos lados sublime, da alma intrépida peninsular. A
moralidade subjectiva desse movimento é indiscutível perante a história: são
do domínio da poesia, e sê-lo-ão sempre, acontecimentos que puderam inspirar
a grande alma de Camões. A desgraça é que esse espírito guerreiro estava
deslocado nos tempos modernos: as nações modernas estão condenadas a não
fazerem poesia, mas ciência. Quem domina não é já a musa heróica da
epopeia; é a economia política, Calíope dum mundo novo, se não tão belo,
pelo menos mais justo e lógico do que o antigo. Ora, é à luz da economia política
que eu condeno as conquistas e o espírito guerreiro. Quisemos refazer os tempos
heróicos da idade moderna: enganámo-nos; não era possível; caímos. Qual é,
com efeito, o espírito da idade moderna? É o espírito de trabalho e de
indústria: a riqueza e a vida das nações têm de se tirar da
actividade produtora, e não já da guerra esterilizadora. O que sai da guerra não
só acaba cedo, mas é além disso um capital morto, consumido sem resultado. E
necessário que o trabalho, sobretudo a indústria agrícola, o fecunde, lhe dê
vida. Domina todo este assunto uma lei económica, formulada por Adão Smith, um
dos pais da ciência, nas seguintes palavras: «O capital adquirido pelo comércio
e pela guerra só se torna real e produtivo quando se fixa na cultura da terra e
nas outras indústrias.» Vejamos o que tem feito a Inglaterra com a índia, com
a Austrália, e com o comércio do mundo. Explora, combate: mas a riqueza
adquirida fixa-a no seu solo, pela sua poderosa indústria, e pela sua
agricultura, talvez a mais florescente do mundo. Por isso a prosperidade da
Inglaterra há dois séculos tem sido a admiração e quase a inveja das nações.
Pelo contrário, nós, Portugueses e Espanhóis, que destinos demos às
prodigiosas riquezas extorquidas aos povos estrangeiros? Respondam a nossa indústria
perdida, o comércio arruinado, a população diminuída, a agricultura
decadente, e esses desertos da Beira, do Alentejo, da Estremadura espanhola, das
Castelas, onde não se encontra uma árvore, um animal doméstico, uma face
humana!
Um
exemplo, o da agricultura portuguesa antes e depois do século XVI, porá em
evidência, com factos significativos, essa influência perniciosa do espírito
de conquista no mundo económico. Esses factos são extraídos de três obras,
cuja autoridade é incontestável: a Memória histórica de Alexandre de
Gusmão sobre a agricultura portuguesa; o livro de Camillo Pallavicini La
economia agraria del Portogallo; e a História da Agricultura em Portugal,
pelo Sr. Rebelo da Silva. Uma coisa que impressiona quem estuda os primeiros séculos
da monarquia portuguesa é o carácter essencialmente agrícola dessa sociedade.
Os cognomes dos reis, o Povoador, o Lavrador, já por si são
altamente significativos. No meio das guerras, e apesar da imperfeição das
instituições, a população crescia, e a abundância generalizava-se. A
arborização do país desenvolvia-se, a charneca recuava diante do trabalho. As
armadas, que mais tarde dominaram os mares, saíram das matas semeadas por D.
Dinis. No reinado de D. Fernando era Portugal um dos países que mais
exportavam. A Castela, a Galiza, a Flandres, a Alemanha, forneciam-se quase
exclusivamente de azeite português; a nossa prosperidade agrícola era
suficiente para abastecer tão vastos mercados. O comércio dos cereais era
considerável. No século XV vinham os navios venezianos a Lisboa e aos portos
do Algarve, trazendo as mercadorias do Oriente, e levando em troca cereais,
peixe salgado e frutas secas, que espalhavam pela Dalmácia e por toda a Itália.
Sustentávamos também um activo comércio com a Inglaterra. As classes
populares desenvolviam-se pela abundância e o trabalho, a população crescia.
No tempo de D. João II chegara a população a muito perto de três milhões de
habitantes... Basta comparar este algarismo com o da população em 1640, que
escassamente excedia um milhão, para se conhecer que uma grande decadência se
operou durante este intervalo!
Dera-se,
com efeito, durante o século XVI, uma deplorável revolução nas condições
económicas da sociedade portuguesa, revolução sobretudo devida ao novo estado
de coisas criadas pelas conquistas. O proprietário, o agricultor, deixam a
charrua e fazem-se soldados, aventureiros: atravessam o oceano, à procura de glória,
de posição mais brilhante ou mais rendosa. Atraída pelas riquezas acumuladas
nos grandes centros, a população rural aflui para ali, abandona os campos, e
vem aumentar nas capitais o contingente da miséria, da domesticidade ou do vício.
A cultura diminui gradualmente. Com essa diminuição, e com a depreciação
relativa dos metais preciosos pela afluência dos tesouros do Oriente e América,
os cereais chegam a preços fabulosos. O trigo, que em 1460 valia 10 réis por
alqueire, tem subido, em 1520, a 20 réis, 30 e 35! Por isso o preço nos
mercados estrangeiros, nem sequer pode cobrir o custo originário: a concorrência
doutras nações, que produziam mais barato, esmaga-nos. Não só deixamos de
exportar, mas passamos a importar: «Do reinado de D. Manuel em diante», diz
Alexandre de Gusmão, «somos sustentados pelos estrangeiros.» Esse sustento
podiam-no pagar os grandes, que a Índia e o Brasil enriqueciam. A multidão,
porém, morria de fome. A miséria popular era grande. A esmola à portaria dos
conventos e casas fidalgas passou a ser uma instituição. Mendigavam os bandos
pelas estradas. A tradição, num símbolo terrivelmente expressivo,
apresenta-nos Camões, o cantor dessas glórias que nos empobreciam, mendigando
para sustentar a velhice triste e desalentada. É uma imagem da nação. As crónicas
falam-nos de grandes fomes. Por tudo isto, decrescia a olhos vistos a população.
Que remédio se procura a este mal? um mal incomparavelmente maior: a escravidão!
Tenta-se introduzir o trabalho servil nas culturas, com escravos vindos da África!
Felizmente não passou de tentativa. Era a transformação dum país livre e
civilizado numa coisa monstruosa, uma oligarquia de senhores de roça! A
barbaridade dos devastadores da América, transportada para o meio da Europa!
Com estes elementos o que se podia esperar da indústria? Uma decadência total.
Não se fabrica, não se cria: basta o ouro do Oriente para pagar a indústria
dos outros, enriquecendo-os, instigando-os ao trabalho produtivo, e ficando nós
cada vez mais pobres, com as mãos cheias de tesouros! Importávamos tudo: de Itália,
sedas, veludos, brocados, massas; da Alemanha, vidro; de França, panos; de
Inglaterra e Holanda, cereais, lãs, tecidos. Havia então uma única indústria
nacional... a Índia! Vai-se à Índia buscar um nome e uma fortuna, e volta-se
para gozar, dissipar esterilmente. A vida concentra-se na capital. Os nobres
deixam os campos, os solares dos seus maiores, onde viviam em certa comunhão
com o povo, e vêm para a corte brilhar, ostentar... e mendigar nobremente. O
fidalgo faz-se cortesão: o homem do povo, não podendo já ser trabalhador,
faz-se lacaio: a libré é o selo da sua decadência. A criadagem duma casa
nobre era um verdadeiro estado. O luxo da nobreza tinha alguma coisa de
oriental. Ao luxo desenfreado, ao vício, à corrupção, mal dista um passo. A
paixão do jogo estendeu-se terrivelmente: jogava-se nas tavolagens, e jogava-se
nos palácios. O ócio, acendendo as imaginações, levava pelo galanteio às
intrigas amorosas, às aventuras, ao adultério, e arruinava a família. Lisboa
era uma capital de fidalgos ociosos, de plebeus mendigos, e de rufiões.
Ao longe,
fora do país, foram outras as consequências do espírito de conquista, mas
igualmente funestas. A escravatura (além de todas as suas deploráveis consequências
morais) esterilizou pelo trabalho servil. Só o trabalho livre é fecundo: só
os resultados do trabalho livre são duradouros. Das colónias que os Europeus
fundaram no Novo Mundo quais prosperaram? Quais ficaram estacionárias?
Prosperaram na razão directa do trabalho livre: o Norte dos Estados Unidos mais
do que o Sul: os Estados Unidos mais do que o Brasil. E essa jovem Austrália,
cuja população duplica todos os 10 anos, que já exporta para a Europa os seus
produtos, cujas instituições são já hoje modelo e inveja para os povos
civilizados, e que será antes de um século uma das maiores nações do mundo,
a que deve ela essa prosperidade fenomenal, senão ao influxo maravilhoso do
trabalho livre, numa terra que ainda não pisou o pé dum homem que se não
dissesse livre? A Austrália tem feito em menos de 100 anos de liberdade o que o
Brasil não alcançou com mais de três séculos de escravatura! Fomos nós,
foram os resultados do nosso espírito guerreiro, quem condenou o Brasil ao
estacionamento, quem condenou à nulidade toda essa costa de África, em que
outras mãos podiam ter talhado à larga uns poucos de impérios! Esse espírito
guerreiro, com os olhos fitos na luz de uma falsa glória, desdenha,
desacredita, envilece o trabalho manual – o trabalho manual, a força das
sociedades modernas, a salvação e a glória das futuras... Mas um fantástico
idealismo perturba a alma do guerreiro: não distingue entre interesse honroso e
interesse vil: só as -grandes acções de esforço heróico são belas a seus
olhos: para ele a indústria pacífica é só própria de mãos servis. A tradição,
que nos apresenta D. João de Castro, depois duma campanha em África,
retirando-se à sua quinta de Sintra, onde se dava àquela estranha e nova
agricultura de cortar as árvores de fruto, e plantar em lugar delas árvores
silvestres, essa tradição deu-nos um perfeito símbolo do espírito guerreiro
no seu desprezo pela indústria. Portugal, o Portugal das conquistas, é esse
guerreiro altivo, nobre e fantástico, que voluntariamente arruína as suas
propriedades, para maior glória do seu absurdo idealismo. E já que falei em D.
João de Castro, direi que poucos livros têm feito tanto mal ao espírito
português como aquela biografia do herói escrita por Jacinto Freire. J.
Freire, que era padre, que nunca vira a índia, e que ignorava tão
profundamente a política como a economia política, fez da vida e feitos de D.
João de Castro, não um estudo de ciência social, mas um discurso académico,
literário e muito eloquente, seguramente, mas enfático, sem crítica, e
animado por um falso ideal de glória à antiga, glória clássica, através
do qual nos faz ver continuamente as acções do seu herói. Há dois séculos
que lemos todos o D. João de Castro, de Jacinto Freire, e acostumámo-nos a
tomar aquela fantasia de retórico pelo tipo do verdadeiro herói nacional.
Falseámos com isto o nosso juízo, e a crítica. duma época importante. É
preciso que se saiba que a verdadeira glória moderna não é aquela: é
exactamente o contrário daquela. Uma só coisa há ali a aproveitar como
exemplo: é a nobreza de alma daquele homem magnânimo: mas essa nobreza de alma
deve ser aplicada pelos homens modernos a outros cometimentos, e dum modo muito
diverso. Foi aquele género de heroísmo tão apregoado por J. Freire que nos
arruinou!
Como era
possível, com as mãos cheias de sangue, e os corações cheios de orgulho,
iniciar na civilização aqueles povos atrasados, unir por interesses e
sentimentos os vencedores e os vencidos, cruzar as raças, e fundar assim,
depois do domínio momentâneo da violência, o domínio duradouro e justo da
superioridade moral e do progresso? As conquistas sobre as nações atrasadas,
por via de regra, não são justas nem injustas. Justificam-se ou condenam-nas
os resultados, o uso que mais tarde se faz do domínio estabelecido pela força.
As conquistas romanas são hoje justificadas pela filosofia da história, porque
criaram uma civilização superior àquela de que viviam os povos conquistados.
A conquista da índia pelos Ingleses é justa, porque é civilizadora. A
conquista da índia pelos Portugueses, da América pelos Espanhóis, foi
injusta, porque não civilizou. Ainda quando fossem sempre vitoriosas as nossas
armas, a índia ter-nos-ia escapado, porque sistematicamente alheávamos os espíritos,
aterrávamos as populações, cavávamos pelo espírito religioso e aristocrático
um abismo entre a minoria dos conquistadores e a maioria dos vencidos. Um dos
primeiros benefícios, que levámos àqueles povos, foi a Inquisição:
os Espanhóis fizeram o mesmo na América. As religiões indígenas não eram só
escarnecidas, vilipendiadas: eram atrozmente perseguidas. O efeito moral dos
trabalhos dos missionários (tantos deles santamente heróicos!) era
completamente anulado por aquela ameaça constante do terror religioso: ninguém
se deixa converter por uma caridade que tem atrás de si uma fogueira! A
ferocidade dos Espanhóis na América é uma coisa sem nome, sem paralelo nos
anais da bestialidade humana. Dois impérios florescentes desaparecem em menos
de 60 anos! em menos de 60 anos são destruídos dez milhões de homens! Dez
milhões! Estes algarismos são trágicos: não precisam de comentários. E,
todavia, poucas raças se têm apresentado aos conquistadores tão banais, ingénuas,
dóceis, prontas a receberem com o coração a civilização que se lhes impunha
com as armas! Bartolomeu de Ias Casas, bispo de Chiapa, um verdadeiro santo,
protestou em vão contra aquelas atrocidades: consagrou a sua vida evangélica
à causa daqueles milhões de infelizes: por duas vezes passou à Europa, para
advogar solenemente a causa deles perante Carlos V. Tudo em vão! A obra da
destruição era fatal: tinha de se consumar, e consumou-se.
Há, com
efeito, nos actos condenáveis dos povos peninsulares, nos erros da sua política,
e na decadência que os colheu, alguma coisa de fatal: é a lei de evolução
histórica, que inflexível e impassivelmente tira as consequências dos princípios
uma vez introduzidos na sociedade. Dado o catolicismo absoluto, era impossível
que se lhe não seguisse, deduzindo-se dele, o absolutismo monárquico. Dado o
absolutismo, vinha necessariamente o espírito aristocrático, com o seu cortejo
de privilégios, de injustiças, com o predomínio das tendências guerreiras
sobre as industriais. Os erros políticos e económicos saíam daqui
naturalmente; e de tudo isto, pela transgressão das leis da vida social, saía
naturalmente também a decadência sob todas as formas.
E essas
falsas condições sociais não produziram somente os efeitos que apontei.
Produziram um outro, que, por ser invisível e insensível, nem por isso deixa
de ser o mais fatal. É o abatimento, a prostração do espírito nacional,
pervertido e atrofiado por uns poucos de séculos da mais nociva educação. As
causas, que indiquei, cessaram em grande parte: mas os efeitos morais persistem,
e é a eles que devemos atribuir a incerteza, o desânimo, o mal-estar da nossa
sociedade contemporânea. A influência do espírito católico, no seu pesado
dogmatismo, deve ser atribuída esta indiferença universal pela filosofia, pela
ciência, pelo movimento moral e social moderno, este adormecimento sonambulesco
em face da revolução do século XIX, que é quase a nossa feição característica
e nacional entre os povos da Europa. Já não cremos, certamente, com o ardor
apaixonado e cego de nossos avós, nos dogmas católicos: mas continuamos a
fechar os olhos às verdades descobertas pelo pensamento livre.
Se a
Igreja nos incomoda com as suas exigências, não deixa por isso também de nos
incomodar a Revolução com as lutas. Fomos os Portugueses intolerantes e fanáticos
dos séculos XVI, XVII e XVIII: somos agora os Portugueses indiferentes do século
XIX. Por outro lado, se o poder absoluto da monarquia acabou, persiste a inércia
política das populações, a necessidade (e o gosto talvez) de que as governem,
persistem a centralização e o militarismo, que anulam, que reduzem ao absurdo
as liberdades constitucionais. Entre o senhor rei de então, e os senhores
influentes de hoje, não há tão grande diferença: para o povo é sempre a
mesma a servidão. Éramos mandados, somos agora governados: os
dois termos quase que se equivalem. Se a velha monarquia desapareceu,
conservou-se o velho espírito monárquico: é quanto basta para não estarmos
muito melhor do que nossos avós. Finalmente, do espírito guerreiro da nação
conquistadora, herdámos um invencível horror ao trabalho e um íntimo desprezo
pela indústria. Os netos dos conquistadores de dois mundos podem, sem desonra,
consumir no ócio o tempo e a fortuna, ou mendigar pelas secretarias um emprego:
o que não podem, sem indignidade, é trabalhar! Uma fábrica, uma
oficina, uma exploração agrícola ou mineira, são coisas impróprias da nossa
fidalguia. Por isso as melhores indústrias nacionais estão nas mãos dos
estrangeiros, que com elas se enriquecem, e se riem das nossas pretensões.
Contra o trabalho manual, sobretudo, é que é universal o preconceito:
parece-nos um símbolo servil! Por ele sobem as classes democráticas em todo o
mundo, e se engrandecem as nações; nós preferimos ser uma aristocracia de
pobres ociosos, a ser uma democracia próspera de trabalhadores. É o fruto que
colhemos duma educação secular de tradições guerreiras e enfáticas!
Dessa
educação, que a nós mesmos demos durante três séculos, provêm todos os
nossos males presentes. As raízes do passado rebentam por todos os lados no
nosso solo: rebentam sob forma de sentimentos, de hábitos, de preconceitos.
Gememos sob o peso dos erros históricos. A nossa fatalidade a nossa história,
Que é
pois necessário para readquirirmos o nosso lugar na civilização? Para
entrarmos outra vez na comunhão da Europa culta? É necessário um esforço
viril, um esforço supremo: quebrar resolutamente com o passado. Respeitemos a
memória dos nossos avós: memoremos piedosamente os actos deles: mas não os
imitemos. Não sejamos, à luz do século XIX, espectros a que dá uma vida
emprestada o espírito do século XVI. A esse espírito moral oponhamos
francamente o espírito moderno. Oponhamos ao catolicismo, não a
indiferença ou uma fria negação, mas a ardente afirmação da alma nova, a
consciência livre, a contemplação directa do divino pelo humano (isto é, a
fusão do divino e do humano), a filosofia, a ciência, e a crença no
progresso, na renovação incessante da Humanidade pelos recursos inesgotáveis
do seu pensamento, sempre inspirado. Oponhamos à monarquia centralizada,
uniforme e impotente, a federação republicana de todos os grupos autonómicos,
de todas as vontades soberanas, alargando e renovando a vida municipal,
dando-lhe um carácter radicalmente democrático, porque só ela é a base e o
instrumento natural de todas as reformas práticas, populares, niveladoras.
Finalmente, à inércia industrial oponhamos a iniciativa do trabalho
livre, a indústria do povo, pelo povo, e para o povo, não dirigida e protegida
pelo Estado, mas espontânea, não entregue à anarquia cega da concorrência,
mas organizada duma maneira solidária e equitativa, operando assim gradualmente
a transição para o novo mundo industrial do socialismo, a quem pertence o
futuro. Esta é a tendência do século: esta deve também ser a nossa. Somos
uma raça decaída por ter rejeitado o espírito moderno: regenerar-nos-emos
abraçando francamente esse espírito. O seu nome é Revolução: revolução não
quer dizer guerra, mas sim paz: não quer dizer licença, mas sim ordem, ordem
verdadeira pela verdadeira liberdade. Longe de apelar para a insurreição,
pretende preveni-la, torná-la impossível: só os seus inimigos,
desesperando-a, a podem obrigar a lançar mãos das armas. Em si, é um verbo de
paz, porque é o verbo humano por excelência.
Meus
senhores: há 1800 anos apresentava o mundo romano um singular espectáculo. Uma
sociedade gasta, que se aluía, mas que, no seu aluir-se, se debatia, lutava,
perseguia, para conservar os seus privilégios, os seus preconceitos, os seus vícios,
a sua podridão: ao lado dela, no meio dela, uma sociedade nova, embrionária, só
rica de ideias, aspirações e justos sentimentos, sofrendo, padecendo, mas
crescendo por entre os padecimentos. A ideia desse mundo novo impõe-se
gradualmente ao mundo velho, converte-o, transforma-o: chega um dia em que o
elimina, e a Humanidade conta mais uma grande civilização.
Chamou-se
a isto o Cristianismo.
Pois bem,
meus senhores: o Cristianismo foi a Revolução do mundo antigo: a Revolução não
é mais do que o Cristianismo do mundo moderno.
Parte 3/3
1.ª Parte | 2.ª Parte
Texto completo


![]()
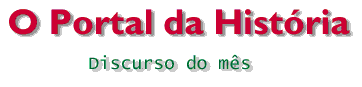
![]()

![]()